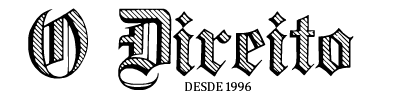1. RESPONSABILIDADE CIVIL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA1.1 RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO1.2 ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA1.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
1. RESPONSABILIDADE CIVIL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA
No campo da responsabilidade civil, o que importa é saber identificar a conduta que atribui a obrigação de indenizar. Assim, caso não se identifique o agente responsável pelo dano, este se tornará irressarcido e a vítima terá que suportar o prejuízo sofrido. Porém, este não é o ideal que o ordenamento jurídico busca, pelo contrário, a expectativa que se tem é de que todos os danos sejam reparados. Neste sentido, conclui Sergio Cavalieri Filho (2004, p. 25-26) que a responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar a vítima ilesa, colocando-o na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso.
O Código Civil Brasileiro estabelece a responsabilidade civil nos artigos 927 e ss., e a definição de ato ilícito é fornecida pelo artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No entanto, essa previsão surgiu como resultado de uma longa evolução histórica, onde podem ser encontradas suas remotas raízes no antigo Código de Hamurabi; este já previa a reparação pecuniária em vários casos em que a ação ou omissão humana, seja por vontade própria ou por negligência, imperícia e imprudência, traga prejuízo patrimonial ou pessoal a outrem. Essa noção de responsabilização retorna, com aspectos específicos, na Grécia, em Roma, entre os germanos, passando pela Idade Média, até a Idade Contemporânea.
Ao fazer uma viagem pela história da responsabilidade civil, pode-se analisar que no início dos tempos, entre as sociedades primitivas, já existiam relações de convívio, por mais que inexistissem regras previamente escritas, tais relacionamentos necessitavam de respeito mútuo. Essas relações eram afirmadas por normas cuja violação implicava a retribuição do mal com o mal, na forma típica da Lei de Talião. Carlos Alberto Gonçalves (2003, p. 4) salienta que o “dano provocava a reação imediata, instintiva e brutal do ofendido”. Como se sabe, esse período consiste na chamada vingança privada que passou para a chamada vingança divina, consolidando-se, enfim, na vingança pública, ou seja, vingança em nome do Estado. Nesse contexto de vingança privada não se cogitava o elemento culpa.
No Direito Romano começou a ser distinguido os delitos em públicos e privados, nos quais o Estado, diante de algum ato considerado como delito privado, assegurava à vítima o direito de propor contra o agente do ilícito uma actio a fim de condená-lo ao pagamento de determinada quantia como pena – poena privata. Desses chamados delitos privados derivaram as obrigações – obligationes, já que o Estado passou a impor ao agente lesivo o pagamento de determinada pecúnia. Já os delitos públicos consistiam na violação da norma jurídica que o Estado considerava de importância social; eram as ofensas mais graves, de caráter perturbador da ordem social. Nesses casos, a pena pecuniária imposta ao réu era recolhida aos cofres públicos.
Neste contexto, outro marco importante relacionado à responsabilidade civil no direito romano foi a Lei das XII Tábuas, que trouxe a punição para os delitos que causassem dano a alguém. Porém, aí não se pensava ainda na idéia de culpa, dada a importância da idéia de vingança. Salienta Carlos Gonçalves (2003, p. 4-5) que quando uma soberana autoridade passa a existir, esta obriga ao ofensor o pagamento “um tanto ou quanto” pelo prejuízo causado. Nessa mesma linha de raciocínio, entende Caio Mário (2000, p. 3) que “quando cogita do que é concedido ao particular ofendido uma reparação, porém uma poena, em dinheiro, destinada à vitima”. Vê-se aí que ainda não se falava em distinção de responsabilidade civil da responsabilidade penal.
No princípio dos tempos, o direito de reivindicar a reparação do dano provocado a alguém de forma culposa era somente do proprietário da coisa atingida. No entanto, com a Lei Aquilia , o dano surgiu como figura autônoma, podendo ser requerido também pelo possuidor de boa-fé, pelo usufrutuário, pelo usuário, pelo credor pignoratício e pelo locatário, vez que antes só poderia ser exigido pela vítima. Segundo Venosa (2004, p. 22), “o sistema romano de responsabilidade extrai da interpretação da Lex Aquilia o princípio pelo qual se pune a culpa por danos injustamente provocados, independentemente de relação obrigacional preexistente”. Assim, a Lei Aquilia consolidou a idéia de reparação pecuniária do dano, impondo ao causador da lesão, o ônus da reparação, em razão do valor do bem, trazendo como fundamento da responsabilidade a noção de culpa, de tal forma que o agente não estaria obrigado a responsabilizar caso inexistisse a culpa. Raymond Monnier (apud Cáio Mário, 2000, p. 4) afirma que “seu maior valor consiste em substituir as multas fixas por uma pena proporcional ao dano causado”.
No fim da época republicana, a obrigação de reparar os danos apresentou um desenvolvimento bastante expressivo, sendo que essa obrigação de reparação foi extraída, no primeiro momento, do livre acordo estabelecido entre a vítima e o causador do dano, daí ser chamada de convencional e, em seguida, passou a ser imposta pela autoridade estatal, tornando-se assim, a obrigação legal.
Na Idade Média, com a queda do Império Romano, passou a constatar uma “pluralidade legislativa”, era o chamado regime da personalidade das leis. Na análise de Caio Mário (2000, p. 4) o que se pode discorrer é que houve uma maior flexibilização na aplicação da responsabilidade civil, que já abrangia não só os “prejuízos materiais”, mas também os “prejuízos morais”. Foi ainda nessa época, com a idéia de dolo e culpa stricto sensu, seguida de uma estruturação do elemento culpa, que começou a ser distinguida a responsabilidade civil da penal. Na Idade Moderna os progressos relacionados ao instituto da responsabilidade pelo dano causado a terceiros foram escassos, não tendo uma expressiva contribuição para o estudo da responsabilidade civil.
Porém, foi com a Idade Contemporânea, precisamente em 1804, com o surgimento do Código Civil Francês, denominado também de Código de Napoleão, que novas propostas para integrar o conteúdo da responsabilidade civil começaram a surgir. Dentre os preceitos previstos neste Código, era freqüente a idéia de que cada ato que provocasse um prejuízo a alguém, obrigava ao autor o dever de reparar o dano. Neste sentido, Venosa (2004, p. 23) entende que o “direito francês aperfeiçoou as idéias romanas, estabelecendo princípios gerais da responsabilidade civil”. Também se buscava nessa época instituir uma responsabilidade automática, onde passa a estabelecer que o agente que agisse com culpa, ainda que mínima, estava obrigado a reparar tal dano. Essa compreensão de responsabilidade atua longe dos casos específicos, dos casos de composição obrigatória que antes fundamentava, motivava o instituto da responsabilidade civil. Seguindo este entendimento Paulo de Bessa Antunes (2004, p. 208) afirma que:
O Código de Napoleão, que é considerado como um grande monumento da ordem jurídica liberal, consagra amplamente a culpa como fenômeno central de toda a responsabilidade. É o Code Civil o reconhecimento e o coroamento de uma nova racionalidade que se afirmou, tendo como seu epicentro o indivíduo e a sua vontade que, desde então, ocupam o papel central da cena jurídica.
Deste modo, o Código de Napoleão foi um marco histórico, sobretudo no Brasil, acerca do instituto da responsabilidade civil fundada na culpa, porém, como dito no início deste tópico, a responsabilidade civil tem o objetivo primordial de reparar o dano, de tal forma que satisfaça a vítima; no entanto, a idéia de culpa centralizadora na obrigação de reparar o dano começou a se tornar insuficiente para assegurar a proteção das vítimas diante dos progressos, especialmente industriais, que refletiu nos inúmeros acidentes que alteram à ordem social. De tal sorte, essa noção de culpa sofreu intensa transformação e ampliação, surgindo assim, novas teorias que alcançasse uma maior garantia aos lesados.
1.1 RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO
Para uma melhor abordagem da teoria da responsabilidade civil estabelecida no Brasil, foi dividido o estudo em três fases históricas distintas: a primeira fase consiste na época das Ordenações do Reino, valendo citar a Lei da Boa Razão (Lei de 18 de agosto de 1769). Tal lei ditava que o direito romano, em casos omissivos, seria subsídio ao direito aplicado no Brasil, não por ser ele mais importante, mas sim, por ter seus preceitos fundados no princípio da boa razão.
A segunda fase tem início com a Independência do Brasil de Portugal (1822), quando, em 25 de março de 1824 foi outorgada a Constituição Política do Império do Brasil, que determinava que fossem criados “quanto antes um Código Civil e um Código Criminal, fundado nas sólidas bases da Justiça e da Equidade”. Deste modo, em 1830, aprova-se nosso Código Criminal, que consolida o instituto do ressarcimento baseado na idéia da satisfação do lesado. Esta foi a primeira legislação nacional a citar, expressamente, o pressuposto da responsabilidade civil.
A terceira fase consagra-se com o eminente jurista Teixeira de Freitas, que estabeleceu uma oposição à idéia de que a responsabilidade civil estivesse intimamente ligada com a responsabilidade criminal, determinando, desta forma, a alteração do Código Criminal pela Lei de 03 de dezembro de 1841 e, por conseguinte, a passagem da disposição da reparação civil à legislação civilista. Segundo Caio Mário (2000, p. 7), Teixeira de Freitas fundamenta a responsabilidade civil no conceito de culpa e desenvolve, ainda, a doutrina da responsabilidade indireta, no qual institui a presunção de culpa nos casos de dano causado por coisa inanimada.
O Decreto Legislativo nº 2.681, de 1912, vem representar um marco na evolução da Teoria da Responsabilidade Civil no direito brasileiro. Tal evolução foi se confirmando com o passar do tempo, sendo que o desenvolvimento da responsabilidade objetiva fragmentou, no ordenamento jurídico, o sistema da responsabilidade civil centrada na culpa, como inscrita no Código Civil de 1916 e mantida pelo Novo Código Civil de 2002. Bem observado por Venosa (2004, p. 23) ao afirmar que a teoria da reparação dos danos somente começou a ser compreendida quando:
(…) os juristas equacionaram que o fundamento da responsabilidade civil situa-se na quebra do equilíbrio patrimonial provocado pelo dano. Nesse sentido, transferiu-se o enfoque da culpa, como fenômeno centralizador da indenização, para a noção de dano.
Esse novo instituto da ordem jurídica foi se refletindo, ao longo do tempo, em outros casos, como por exemplo, na responsabilidade civil do Estado, na responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, na legislação sobre acidentes do trabalho, no Código de Defesa do Consumidor, dentre outros.
Em verdade, os fundamentos da responsabilidade civil, que se constata hodiernamente, confirma seus princípios tanto em relação à ofensa a bens materiais quanto a bens imateriais, bem como do dano ao meio ambiente, considerando-se, aqui, o patrimônio histórico, cultural e paisagístico e até bem pouco tempo atrás, o dano moral. Compartilha desse entendimento Caio Mário (2000, p. 9) ao relatar em sua obra que:
(…) sem se ater ao problema da responsabilidade moral, que iria desaguar na teoria subjetiva, e sem procurar isolar a responsabilidade civil, dentro do universo da responsabilidade como conceito geral, o jurista verifica que a tendência da doutrina é aliar a noção técnica de responsabilidade civil à obrigação de reparar o prejuízo, independente de identificar a causalidade.
Sob a influência dessas idéias e, sobretudo, do Código Francês, o Código Civil de 1916 trouxe, no artigo 159, a teoria da Responsabilidade Subjetiva ou Teoria da Culpa, embora tenha esse Código reconhecido casos especiais de responsabilidade objetiva. Neste sentido Orlando Gomes (2000, p. 282) revela que o “fato de ter sido consagrado o princípio da responsabilidade baseada na culpa não significa que, em nosso direito positivo, inexistam regras consagradoras da responsabilidade fundada no risco”. O Novo Código Civil manteve a mesma Teoria da Culpa, embora tenha ampliado sua aplicação, abraçando também os danos morais. O seu artigo 186 estatui que está sujeito a reparar o dano todo aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Com isso, deixa ao arbítrio do lesado postular o ressarcimento, ou deixar de fazê-lo.
1.2 ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
Primeiramente, cabe ressaltar que a responsabilidade civil tratada neste subtítulo é a adotada pelo atual Código Civil Brasileiro, relativo ao ato ilícito presente na Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva. Chama-se atenção de que a responsabilidade civil objetiva será analisada em outro subtítulo quando se estiver abordando Responsabilidade Civil do Estado.
Em verdade, podem ser analisados três elementos formadores da responsabilidade civil. São eles: a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano. Deste modo, o primeiro pressuposto a compor a responsabilidade civil é a conduta culposa do agente, que, conforme reza o artigo 186, do Código, consiste em: “toda ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência”, desde que represente para outrem uma violação de direito ou dano. Percebe-se que, na avaliação de tal conceito, o ato da vontade do agente tem que apresentar ilicitude. Discorrendo sobre o assunto, Sílvio Venosa (2004, p. 26) afirma que “na responsabilidade civil, o centro de exame é o ato ilícito. O dever de indenizar vai repousar justamente no exame da agressão ao dever de conduta que constitui o ato ilícito”. Logo, não há que se falar em obrigação de reparar sem o elemento culpa, isto é, sem a falta de habilidade, diligência e prudência.
Para que se configure o ato ilícito não basta a ação ou a omissão do agente, pois para gerar a responsabilidade de reparação é preciso que o dano cause prejuízo a outrem, sendo essa a condição fundamental do instituto da responsabilidade civil. Dessa forma, o ato ilícito deve ter como ponto crucial a transgressão de um dever, onde só irá responder pelo fato aquele que lhe dá causa, por conduta própria. Assim, excluem do âmbito da responsabilização os danos provindos por fatos naturais e ainda aqueles causados imediatamente pelo homem, mas levados por forças naturais. Para Orlando Gomes (2000, p. 267) é importante classificar o ato como ilícito, isto é, que seja tido como “a lesão aos direitos absolutos e aos interesses juridicamente protegidos”.
Como visto, o fato do agente poder se exteriorizar através de uma ação (comportamento positivo) ou por uma omissão (comportamento negativo). O professor Sérgio Cavallieri (2004, p. 43) discorrendo sobre o conceito de conduta diz que “a ação ou omissão é o aspecto físico, objetivo da conduta, tendo a vontade o seu aspecto psicológico ou subjetivo”. Para que nasça o dever de reparar o dano através da omissão do agente é preciso a existência de um dever jurídico de praticar certo ato que não se praticou, pois, a omissão, por si só, não traz efeitos na esfera jurídica.
A culpa é pressuposto do ato ilícito na responsabilidade subjetiva, já que, ligada com a conduta, adquire importância jurídica, ou melhor dizendo, a conduta juntamente com o elemento culpa resultará no elemento principal da obrigação de indenizar. É a conduta culposa do agente que causa dano a outrem, acarretando a obrigação de repará-lo. A culpa traz idéia de reprovação; age com culpa quem age ilicitamente, violando direito de alguém. Sérgio Cavalieri (2004, p. 51) ao falar de caracterização da culpa observa que esta tem por essência o descumprimento de um dever de cuidado que o agente poderia conhecer e observar, ou a omissão de diligência exigível. Observa o mesmo autor que “na culpa a conduta nasce lícita, pois é dirigida a um fim legítimo, mas por erro sobre o curso casual, desvia-se da sua rota normal e acaba por produzir um resultado ilícito”. Assim, para que o agente responda civilmente pelo dano causado, além dele ser imputável e ter sua conduta válida no mundo jurídico, deveria ter o mesmo a possibilidade de agir de outro modo, diferente da conduta praticada.
No direito vigente, o agente causador do dano responde pelas conseqüências de sua conduta, sem questionar seu juízo de valor, ou seja, não importa se o agente queria ou previa os efeitos de sua conduta. Ressalta-se que, na responsabilidade civil, a função da indenização é reparadora e não punitiva, como ocorre no Direito Penal, em que a valoração da pena é muito influenciada pelo grau de culpa do agente.
O segundo pressuposto caracterizador da responsabilidade civil, é o nexo causal, que consiste na relação entre a conduta praticada e o dano sofrido. Na verdade, é o primeiro elemento que se deve observar na situação que envolva responsabilidade civil. Para Caio Mário (2000, p. 81) “é indispensável o estabelecimento de uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado”. Observa-se que é preciso fazer uma ligação entre a violação do direito de outrem com o dano causado, e essa relação é que se chama nexo causal. Assim, é através do exame da relação casual que se conclui quem foi realmente o agente causador do dano. Neste mesmo entendimento adverte Cavalieri (2004, p. 65) que “antes de decidirmos se o agente agiu ou não com culpa teremos que apurar se ele deu causa ao resultado”.
Contudo, não se deve confundir esse elemento – nexo causal – com o instituto da imputabilidade, pois a relação de causalidade consiste em elementos externos, que é a atividade ou não do sujeito causador do dano; e a imputabilidade representa um elemento interno, próprio do sujeito. Assim, por serem conceitos distintos, pode haver imputabilidade sem nexo causal, mas não poderia haver esse sem o elemento da imputabilidade.
O terceiro e último pressuposto da responsabilidade civil, consiste no dano, elemento tido como o mais importante, visto que somente haverá possibilidade de indenização se for comprovado a ocorrência do dano. Sob esse aspecto, o dano não é somente um elemento que constitui a responsabilidade civil, mas também importante para a determinação do dever de indenizar. À luz do pensamento de Cavalieri (2004, p. 88-89)
(…) pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A indenização sem dano levaria ao enriquecimento ilícito; para quem o recebesse enriquecimento sem causa e pena para quem o pagasse, já que o objetivo da indenização é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, possibilitando a reintegração do estado em que a vítima se encontrava antes da prática do ato ilícito.
Neste sentido, para efeito de reparação civil o dano é todo prejuízo aos direitos de outrem, sendo esses tutelados pelo ordenamento jurídico, tanto referente ao direito patrimonial como não patrimonial – moral. Convém assinalar que para concretizar o dano é preciso observar o efetivo prejuízo sofrido pelo lesado. Não é uma tarefa fácil determinar a indenização atribuída à vítima; com isso, para conferir a mais adequada indenização ao lesado é importante avaliar as situações de forma concreta e atual. Demonstrando seu apreço pelo assunto, comenta Sergio Cavalieri (2004, p. 91) que:
Não é fácil, como se vê, estabelecer até onde o fato danoso projeta sua repercussão negativa no patrimônio da vítima. Nesta tarefa penosa deve os juiz valer-se de um juízo de razoabilidade, de um juízo casual hipotético, que segundo Larenz, seria o desenvolvimento normal dos acontecimentos, caso não tivesse ocorrido o caso ilícito gerador da responsabilidade civil. Deve o juiz mentalmente eliminar o ato ilícito e indagar se aquilo que está sendo pleiteado a título de lucro cessante seria a conseqüência do normal desenrolar dos fatos; se aquele lucro seria razoavelmente esperado, caso não tivesse ocorrido o ato ilícito.
Desta forma, o que orientará a justiça em relação ao dever de ressarcir é a real análise da lesão ao direito da vítima, e não aos efeitos pecuniários que o dano causou, visto que o que a vítima busca é uma reparação ao prejuízo por ela sofrido e não a obtenção de vantagens. Como visto, a extensão do dano, objeto de reparação, constitui sempre um importante dado para o Judiciário ao estabelecer a reparação do dano pelo agente.
A reparação não deve conter aspectos penais, como já afirmado anteriormente, porém a indenização deve ser vista como uma forma reguladora das atividades humanas, visto que as pessoas pensariam duas vezes ao tentar praticar atos danosos ao direito ou interesses de outrem, uma vez que teriam que ressarcir a vítima pelo dano sofrido.
Deste modo, feita essa análise da Responsabilidade Civil Subjetiva, é agora necessário, para que se possa chegar ao objetivo desta monografia, que consiste em identificar se existe ou não a obrigação de reparar o dano causado ao Meio Ambiente por parte das Agências Reguladoras, a análise da Responsabilidade Civil do Estado, uma vez que, como poderá ser visto mais adiante, esses entes reguladores fazem parte da Administração Pública Indireta e, por isso, torna-se sobremodo importante a apreciação da Responsabilidade Civil do Estado.
1.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
A Responsabilidade Civil do Estado por danos causados aos indivíduos tem assumido, através dos tempos, várias feições. Remotamente, o Estado não podia ser responsabilizado; prevalecia a Teoria da Irresponsabilidade Absoluta da Administração. Dessa teoria evoluiu-se para a Teoria da Culpa, firmando-se necessário distinguir o que era ato de império e o que era ato de gestão, e atribuindo-se a culpa aquiliana – que se origina da inobservância de um dever legal preexistente a qualquer ato privado – somente aos últimos atos. Por fim, desenvolveu-se a Teoria da Responsabilidade Objetiva, ou Administrativa, que na verdade é a responsabilidade atribuída ao ente estatal que praticou o ato, independentemente desse ato ser de império ou de gestão; aqui, pouco importa se houve culpa ou dolo do agente público exigindo-se, apenas, o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva estatal.
Mais do que em outros institutos de direito, tem a responsabilidade civil apresentado uma acentuada evolução, tendendo a se afastar gradativamente de qualquer idéia que restrinja seu uso, principalmente aquela ligada ao conceito de culpa, estando hoje mais ligada à ocorrência do dano puro, aliada ao risco criado por algumas condutas praticadas. Na verdade, a responsabilidade civil por culpa, no contexto atual, perde a posição de centro no sistema da responsabilização civil, e passa-se a delegar à responsabilidade objetiva um campo maior de atuação. Sintetiza tal entendimento Paulo de Bessa Antunes (2004, p. 212) ao afirma que:
A culpa, de grande estrela dos códigos civis modernos, está, a cada dia que passa, constituindo-se em uma categoria jurídica que não mais impressiona. A diminuição da importância da culpa é um fenômeno que se verifica em todo o mundo industrializado, como conseqüência da própria industrialização.
Destaca ainda que:
A atividade industrial possui algumas características que eram absolutamente desconhecidas pelo antigo regime. Estas características é que levaram à institucionalização de um novo regime, cujas características são inteiramente diversas de tudo aquilo que já foi anteriormente pensado em termos de reparação. (ANTUNES, 2004, p. 212)
A primeira fase desse histórico evolutivo da responsabilidade civil do Poder Público, então explanado, encontra-se na vigência da concepção de que o Estado se localizava a uma posição tão soberana que em hipótese alguma poderia causar qualquer tipo de dano. A soberania nesta fase da Teoria da Irresponsabilidade Absoluta do Estado representava o exercício absoluto do poder estatal onde o soberano se apresentava imune de praticar qualquer prejuízo a outrem, até mesmo se comprovado a culpa ou o dolo do agente público que causou o dano. Era a época do Absolutismo, com as funções estatais centralizadas em mãos do monarca que, como representante divino, não errava, logo não poderia ser responsabilizado por danos advindo de erro. Desta forma, o Poder Público não tinha qualquer responsabilidade pelos atos cometidos por seus agentes; porém, cumpre registrar, não ficavam os indivíduos descobertos de qualquer proteção, por isso, leciona Oswaldo Aranha (1974, p. 479) que em “atuando os agentes públicos com dolo ou culpa, estes responderiam, individualmente, por seus atos, mesmo quando no exercício de cargo público. Isto porque, em violando o direito, não agiam em nome do Estado, como seu preposto, mas em seu nome próprio”.
Na seqüência temporal, veio a segunda fase, retrocitada, ao longo da segunda metade do século XIX, quando passou-se a admitir a responsabilidade civil do Estado, na qual, para que essa responsabilidade ocorresse era preciso definir-se com clareza a distinção entre atos de império e atos de gestão. José dos Santos Carvalho Filho (2004, p. 447) faz a devida distinção entre esses atos. Vejamos em seu dizer:
(…) aqueles seriam coercitivos porque decorrem do poder soberano do Estado, atos esses que seriam regidos pelas normas tradicionais de direito público, sempre protegidos pela figura estatal; ao passo que os atos de gestão mais se aproximariam com os atos de direito privado.
Seguindo este mesmo pensamento, Di Pietro (2003, p. 526) afirma que:
(…) essa distinção foi idealizada como meio de abrandar a teoria da irresponsabilidade do monarca por prejuízos causados à terceiros. Passou-se a admitir a responsabilidade civil quando decorrente de atos de gestão e a afastá-la nos prejuízos resultantes de atos de império.
Foi a dificuldade de distinguir se o ato praticado pelo Estado era ato de império ou ato de gestão que levou à evolução da Teoria da Responsabilidade do Estado, onde essa responsabilidade passou a ser baseada na Teoria da Responsabilidade Subjetiva ou Teoria da Culpa. Vale dizer, somente no caso do agente público ter agido com culpa, na gestão da Administração Pública, é que poderia surgir a possibilidade do Estado ser civilmente responsabilizado. Nesta linha, dentro da Responsabilidade por Culpa Subjetiva, surgiu a noção de que o Estado deveria responder na forma do Direito Privado, igual à responsabilidade que o patrão tinha pelos atos de seus empregados. Consideram os doutrinadores que essa teoria serviu como base para a redação do artigo 15 do Código Civil de 1916, e também para a do artigo 43 do atual Código, fundamentando a Teoria da Responsabilidade Subjetiva do Estado.
Vale transcrever o teor do vigente artigo 43 da lei civil:
Art. 43 – As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
Foi nesse cenário que começou a divisão do tema da responsabilidade civil em duas vertentes: a Teoria Civilista da Responsabilidade Civil do Estado e a Teoria Publicista da Responsabilidade Civil do Estado.
Com o passar do tempo e surgimento de novos casos de prejuízos e danos causados pelo Poder Público, entendeu-se que a responsabilidade do Estado não poderia ser baseada somente em conceitos e institutos do Direito Civil, já que a Administração Pública se sujeita a regras especiais que modificam seguindo as necessidades dos serviços públicos. É o início da terceira fase da Teoria da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Nessa tentativa de unir, ou melhor, de conciliar os direitos do Estado com os direitos privados surgiram as seguintes correntes: a) Teoria da Culpa Administrativa ou da Culpa do Serviço Público, b) Teoria do Risco Administrativo e, finalmente c) Teoria do Risco Integral.
Na primeira teoria – da culpa administrativa ou do serviço público – a responsabilidade do Estado se apresenta pela falta do serviço. No entendimento de Maria Sylvia Di Pietro (2003, p. 527) esta teoria procura desvincular a responsabilidade estatal da idéia de culpa do agente. De fato, aduz a mestra que, “aqui não se discute a culpa subjetiva do agente, porém se avalia a falta objetiva do serviço”. Em síntese, socorre-nos também o ilustre Celso Bandeira de Melo (2004, p. 885) afirmando que a faute du service, ou a culpa do serviço, ou a falta do serviço, ocorre quando o serviço “não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado”. Essas são as modalidades pelas quais os serviços se apresentam, traduzindo uma ligação entre a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva.
Helly Lopes (2000, p. 597) explica claramente essa teoria. Vejamos:
A teoria da culpa administrativa representa o primeiro estágio da transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a tese objetiva do risco administrativo que a sucedeu, pois leva em conta a falta do serviço para dela inferir a responsabilidade da Administração. É o estabelecimento do binômio falta do serviço/culpa da Administração. Já aqui não se indaga da culpa subjetiva do agente administrativo, mas perquire-se a falta objetiva do serviço em si mesmo, como fato gerador da obrigação de indenizar o dano causado a terceiro. Exige-se, também, uma culpa, mas uma culpa especial da Administração, a que se convencionou chamar de culpa administrativa. (grifos originais)
O que se viu é que a culpa administrativa não se relaciona com a culpa individual do agente público causador do dano. Ao contrário, ela é do próprio serviço público, é uma culpa anônima, caso em que somente o Poder Público responde civilmente pelo dano, na maioria das vezes. A culpa do agente público é simplesmente uma espécie da faute du service, que gera obrigação ao Poder Público em reparar o dano. Vale registrar, que tanto o Estado como o agente causador do dano respondem civilmente. Assim, a falta do serviço baseia-se ou na culpa individual do agente público causador do dano, ou na culpa do próprio serviço, que é a chamada culpa anônima, pois não é possível individualizá-la.
Tem nesta hipótese a lição sempre atual do professor Oswaldo Aranha (1974, p. 483), ao dizer que:
Cabe, neste caso, à vítima comprovar a não prestação do serviço ou a sua prestação retardada ou má prestação, a fim de ficar configurada a culpa do serviço, e, conseqüentemente, a responsabilidade do Estado, a quem incumbe prestá-lo. Envolve, todavia, para a culpa presumida, ressalvada, no entanto, sempre a comprovação de que o serviço funcionou regularmente, de forma normal, correta.
A segunda teoria, a do risco administrativo, serve de pressuposto para a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Helly Lopes (2000, p. 597) diz que nessa teoria:
(…) não se exige qualquer falta do serviço público nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do ato lesivo da Administração.
O que será analisado é o dano e o prejuízo causado pelo Poder Público. Nessa teoria são admitidas as causas de excludentes da responsabilidade, ou seja, caso a Administração demonstre que o dano foi proveniente de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, sua responsabilidade será atenuada ou até mesmo excluída. Ao contrário do que ocorre com a teoria do risco integral, onde segundo Helly (2000, p. 598) essa teoria “é a modalidade extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso e à iniqüidade social. Por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo de vítima”. Deste entendimento não concorda Maria Sylvia Di Pietro (2003, p. 527) onde afirma que “a teoria do risco administrativo não se difere do risco integral nem tão pouco da teoria da responsabilidade objetiva”.
Por fim, entende-se que a teoria do risco faz surgir a teoria da responsabilidade objetiva, que consiste na quarta fase da evolução histórica do tema em estudo; essa surgiu mesmo sem deixar de lado a idéia da responsabilidade baseada na culpa administrativa. Para essa teoria, o dano sofrido pelo indivíduo deve ser analisado como funcionamento do serviço público, sem importar como se deu esse funcionamento. Importando somente a relação de causalidade entre o dano e o ato do agente público. Como visto, tal teoria tem apenas a apreciação do dano sofrido pelo particular e o nexo causal entre esse e a conduta do agente público.
Deste modo, a responsabilidade objetiva é assim denominada porque exclui a verificação de aspectos subjetivos, ou seja, afasta a análise dos elementos culpa ou dolo. Desse entendimento compartilha Di Pietro (2003, p. 527) ao afirmar que nessa teoria, “a idéia de culpa é substituída pelo nexo de causalidade entre o fundamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular”. O fundamento da responsabilidade objetiva do Estado é o princípio da igualdade dos ônus e dos encargos sociais. Onde o ônus deve ser dividido entre todos. Esse princípio é explicado de forma clara por Edimur Ferreira de Faria (2004, p. 425) ao afirmar que:
A justificativa do dever de indenizar decorre do fato de que alguns indivíduos da sociedade não podem sofrer sozinhos os sacrifícios que lhes são impostos em virtude de serviços ou outras atividades estatais em benefício da comunidade. Os ônus, em tais casos, devem ser repartidos entre todos, por intermédio do Estado, gestor da coisa pública, patrimônio da sociedade.
A transformação da Responsabilidade Civil do Estado, no Brasil, também pode ser analisada através de sua evolução constitucional. Aqui, a Teoria da Irresponsabilidade Civil do Estado jamais foi acolhida. A Constituição imperial de 1824 estabelecia, no seu artigo 178, o princípio da responsabilidade dos agentes públicos “pelos abusos e omissões praticados no exercício das suas funções e, por não fazerem efetivamente responsáveis aos seus subalternos”. Apenas o Imperador era irresponsável, conforme dispunha o artigo 99 da mesma Constituição, a dizer: “a pessoa do Imperador é inviolável e sagrada: ele não está sujeita a responsabilidade alguma”.
A Constituição Republicana de 1891, no seu artigo 82, previu, de igual modo, que “os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos de seus cargos, assim como pela indulgência de negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus subalternos”. Acolhendo a doutrina da responsabilidade com culpa do Código Civil de 1917, no seu artigo 15 previu que “as pessoas jurídicas de direito público civilmente respondem por atos de seus representantes que nessa qualidade causarem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano”.
De um certo modo, segundo Di Pietro (2003, p. 529) “a redação imprecisa do dispositivo permitiu que alguns autores defenderem, na vigência desse dispositivo, a teoria da responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo”. Entretanto leciona Helly Lopes (2000, p. 599), que o “art. 15 nunca admitiu a responsabilidade sem culpa, exigindo sempre e em todos os casos a demonstração desse elemento subjetivo para a responsabilização do Estado”.
Já a Constituição de 1934 inovou em seu contexto, pois seu artigo 171 previa que “os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício dos seus cargos”. Deste modo, foi a primeira a admitir a responsabilidade solidária do Estado com seus servidores pelos danos que causarem a terceiros, com culpa ou dolo. A Constituição de 1937 adotou critério igual no artigo 158.
Porém, foi com a Carta Política de 1946, que ocorreu um grande salto evolutivo da responsabilidade civil do Estado, no Brasil, vez que revestida por um caráter mais liberal passou a admitir a Teoria do Risco Administrativo, onde o Estado responde independente de culpa do seu agente; revogando em parte o artigo 15 do Código Civil de 1917. Assim é o texto do artigo 194:
Art. 194 – As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nesta qualidade, causarem a terceiros.Parágrafo único: caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando tiver havido culpa deste.
O preceito constitucional foi repetido na Constituição de 1967, artigo 105, acrescentando, no parágrafo único, que a ação regressiva era cabível não só em caso de culpa, mas também, com dolo. Iguais disposições foram consagradas na Emenda nº 1, de 1969.
Com todos esses avanços em relação ao instituto da Responsabilidade Objetiva do Estado no Brasil, existiam ainda alguns espaços vazios na norma constitucional interpretada em conjunto com as normas civilistas, pois havia a exclusão das Empresas Públicas, entidades de Direito Privado a serviço do Poder Público no âmbito da responsabilidade estatal, já que previa somente essa responsabilidade em razão aos entes Administrativo de Direito Público. Contudo, tal situação foi revertida, uma vez que a Constituição de 1988 passou a atribuir aos entes particulares a serviço do Poder Público, por concessão ou permissão, a responsabilidade objetiva, artigo 37, § 6º. Vejamos:
Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:§6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seu agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Neste contexto, é importante comentar algumas diferenças contidas nas possibilidades de reparação do dano em função de ato de administração a ato da Administração. Na primeira hipótese o ente administrativo estaria obrigado a restabelecer a situação ao estado anterior à lesão, ou seja, ao status quo ante, pois pressupõe aí a existência de um vínculo indissociável entre o ato causador do dano e os objetivos, interesses da Administração. De modo que, para a admissão da responsabilidade por esses atos (atos de administração) é possível admitir naqueles atos específicos que tende alcançar o bem comum, objetivando a consecução de objetivos coletivos e direcionados em atender o interesse público. Deste modo, se conseguisse provar a inexistência da relação entre o ato causador do dano e os objetivos da Administração, seria possível retirar do Poder Público a obrigação de indenizar. Já o segundo caso, que corresponde aos atos da Administração permite a possibilidade de recair a responsabilidade estatal por todos os atos nos quais esteja envolvida a Administração Pública, bastando que sejam atos da Administração. Oswaldo Aranha Bandeira de Melo (1974, p. 412) expressa de forma bastante adequada o sentido desses vocábulos assim dizendo:
Ao conceito de ato da Administração se opõe o de ato de administração. Este enfeixa qualquer ato da Administração Pública, tanto o de atividade material, de execução de obra e prestação de serviço, como o jurídico, seja praticado enquanto Poder Público, ou nas mesmas condições de um particular; portanto, compreende o ato jurídico da Administração Pública, regido pelo Direito Administrativo, como regido pelo Direito Privado. Destarte, ato de administração é o material de limpeza de livros de uma biblioteca pública, como o jurídico–privado de compra e venda dos livros dessa biblioteca, no mercado da oferta e da procura, como o jurídico-administrativo de expropriação de livros raros de um colecionador para integrar o seu acervo, já os atos da Administração são só os atos jurídicos dos órgãos administrativos, enquanto Poder Público, isto é, em que há manifestação da vontade autoritária estatal.
Deste modo, é certo que em ambos os casos há a necessidade de demonstrar o nexo causal entre o ato da Administração e o dano causado, sendo que na segunda hipótese não é preciso demonstrar a culpa do ente administrativo.
A Carta Magna de 1988 traz um conceito não diferente a respeito das duas situações da causa do dano, ou seja, não especifica que os danos causados pela Administração Pública tenham necessariamente derivar de “atos ilícitos”. A norma prevê que tendo causado um prejuízo, qualquer que seja ele, com ou sem culpa, obriga-se a Administração pela sua reparação, sem prejuízo a outras implicações sobre a conduta dos agentes públicos.
A rigor, o Estado será sempre responsável pela reparação dos danos causados aos particulares, sejam esses atos provocados por seus agentes diretos ou por entidades privadas no exercício de função pública, seja por permissão ou por concessão. Isto porque, hoje vige entre nós o instituto da Responsabilidade Objetiva do Estado, sem culpa, inspirado no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, pelo qual o Poder Público responde independentemente da prova de sua culpa, desde que não demonstre culpa do lesado, causadora por si só do dano, caso fortuito ou força maior. Assim, para a reparação do dano provocado pelo Poder Público não é preciso a distinção dos atos causadores dos respectivos danos, se lícitos ou ilícitos.
A Constituição de 1988 traz outra importante inovação, que é o reconhecimento da Pessoa Jurídica de Direito Privado, prestadora de serviço público, responder através da responsabilidade objetiva, sob a mesma forma da Pessoa Jurídica de Direito Público; e ainda, a amplitude do uso do termo “agente” que veio substituir o termo “funcionário” trazido pela Constituição 1967.
Conforme ensina Celso Antonio Bandeira de Melo (2004, p. 881) “no que atina às condições para engajar responsabilidade do Estado, seu posto mais evoluído é a responsabilidade objetiva, a dizer, independentemente de culpa ou procedimento contrário ao Direito”. No entanto, para que essa Teoria chegasse a tal consolidação foi preciso muitos questionamentos e insatisfações acerca do tema responsabilidade e, o que parece é que todos os problemas relativos à responsabilidade estatal teriam encontrado, de certa forma, sua solução. Porém, como nada na vida é estático, a partir da década de 90, o Estado passou a evoluir para uma nova política governamental. É o chamado modelo neoliberal, que acabou trazendo reflexos em toda a estrutura de governo, haja vista a falta de condições do Estado de manter a realização de investimentos necessários nas áreas mais essenciais, tais como a energia elétrica, petróleo, telefonia, vigilância sanitária dentre outras, não restando outra opção senão a desestatização, implementada pelas inúmeras e necessárias privatizações.
Assim, havendo a desvinculação da responsabilidade de tais funções do Poder Público se tornado uma realidade, foi preciso o surgimento de um novo modelo de Estado que garantisse a devida prestação desses serviços públicos sem esquecer das qualidades e das metas traçadas pelo contrato de permissão ou concessão. Esse modelo de Estado é chamado de Estado Regulador, cujo instrumento mais importante é a Agência Reguladora.
Nesse novo contexto irão aparecer grandes desafios à Teoria da Responsabilidade Civil do Estado, visto que, agora, parte das atividades estatais são outorgadas a essas Agências que, enquanto uma qualificação de Autarquia especial, assumem responsabilidades que, uma vez descumpridas, geram danos aos cidadãos; além disso, têm um poder de normatização específico e, conseqüentemente, acabam propiciando uma nova postura em relação a possibilidade ou não de responder civilmente.