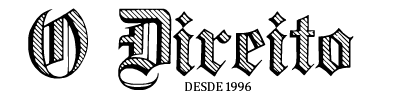Um homem de meia-idade, jogando futebol com amigos no litoral paulista, sofre uma contusão no joelho, um tipo de lesão muito comum entre atletas de fim de semana. Por meio de um pescador da região, ele é apresentado à erva-baleeira, que a população local usa para tratar cortes e inflamações. O uso do extrato tem efeito impressionante e, rapidamente, o machucado foi curado. A história acabaria aqui, se o “peladeiro” não fosse um alto executivo do laboratório Aché, a maior indústria farmacêutica nacional. As propriedades da erva foram investigadas e a empresa lançou, em meados dos anos 2000, o primeiro antiinflamatório de uso tópico feito com o princípio ativo de uma planta brasileira. O relato foi feito pelo professor Michael P. Ryan, da Universidade Georgetown (EUA), na oficina “a Lei da Propriedade Intelectual e sua administração estratégica”, realizada em abril, no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF). O objetivo do palestrante foi pontuar como as normas que tratam do registro de marcas e patentes afetam a destinação de recursos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Isso porque, entre a notícia sobre o uso popular da erva-baleeira e o início dos testes laboratoriais com a planta correram vários anos: os cientistas da Aché só receberam a tarefa de analisá-la e testá-la depois da edição da Lei 9.279, em 1996, quando o Brasil começou a conceder patentes de produtos e processos farmacêuticos. Para Michael P. Ryan, isso demonstra o óbvio: sem a segurança jurídica que garanta o direito de exclusividade na exploração econômica do produto, não há investimento. E nesse quesito, o pesquisador, que escreveu um estudo comparativo sobre patentes e inovação tecnológica no Brasil e na Índia no período entre 2005 e 2010, elogiou a estabilidade das instituições políticas e da economia nacionais nos últimos anos, que garantiriam um campo fértil para a proliferação de novos inventos e processos industriais. A oficina “a Lei da Propriedade Intelectual e sua administração estratégica” foi elaborado com o objetivo de promover a reflexão, bem como a troca de ideias e de experiências com juízes. Ainda, como ficou claro na exposição de Michael P. Ryan, o curso discutiu a repercussão que o assunto tem na economia, no direito e no dia-a-dia da sociedade. O evento foi promovido pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ, vinculado ao Conselho da Justiça Federal), pela Escola da Magistratura Regional Federal da Segunda Região (Emarf), pelo Consulado Geral dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro, e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Fortalecimento das escolas da magistratura
A mesa de abertura do curso foi composta pela diretora-geral da Emarf, desembargadora federal Liliane Roriz, pelo juiz presidente da Corte de Apelação, da Justiça Federal dos Estados Unidos, Randall R. Rader, pelo vice-diretor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Dimiter Gantchev, pelo advogado Benjamin Hardman, consultor da Academia Global de Propriedade Intelectual (Gipa), e pelo procurador-chefe do INPI, Mauro Maia.
O encontro contou ainda com a participação do corregedor-geral da Justiça Federal, ministro João Otávio Noronha, que, na ocasião, defendeu o fortalecimento das escolas da magistratura. Para o ministro, essas instituições que investem no aperfeiçoamento de juízes deveriam contar não apenas com a autonomia administrativa, mas também orçamentária: “O investimento em uma magistratura altamente qualificada é fundamental, se de fato quisermos inserir o Brasil no rol dos países desenvolvidos. A sociedade clama por sentenças bem resolvidas, sintéticas, rápidas. E isso nós só conseguiremos se tivermos juízes com conhecimento e segurança para produzi-las. Se pudermos criar na magistratura uma nova mentalidade, um novo comportamento que privilegie a praticidade, a simplicidade, a economicidade. O papel das escolas nesse processo é essencial”.