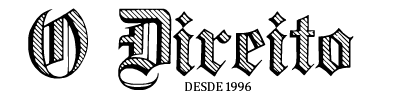1. INTRODUÇÃO; 2. ALCANCE DA DISCRICIONARIEDADE, 2.1 Distinção entre vinculação e discricionariedade; 2.2 Discricionariedade na evolução do Estado; 2.3 Fundamentos da discricionariedade; 2.4 Discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados; 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS, REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho visa tratar de tema de extrema importância para a Administração e para o sistema em geral, uma vez que, atualmente, o que mais se percebe no âmbito de atuação administrativa, é o desrespeito dos gestores públicos com o os administrados, priorizando seus interesses particulares, em detrimento do interesse público.
Contrariamente à competência vinculada que, como o próprio nome já informa, o legislador conferiu ao administrador público a discricionariedade ou competência discricionária, que vem evoluindo no tempo e se tornando cada vez mais usual e corrente no ordenamento jurídico.
Inicialmente, tratar-se-á da distinção entre a vinculação e a discricionariedade, depois, será exposto um breve histórico acerca de sua evolução nas diversas fases do Estado brasileiro, chegando ao Estado Democrático de Direito. Em seguida, delimitar-se-á a fundamentação da concessão da discricionariedade ao administrador público e, por fim, a relação que tem ela com os conceitos jurídicos indeterminados.
Finalmente, de forma simplificada, concluir-se-á, demonstrando posicionamento favorável à prática da discricionariedade, optando por práticas que venham a melhorar a utilização de tal prerrogativa no exercício da função administrativa.
2. ALCANCE DA DISCRICIONARIEDADE
2.1 Distinção entre vinculação e discricionariedade
Segundo Carvalho Filho (2002, p. 02) “compõe-se o Estado de poderes, segmentos estruturais em que se divide o poder geral e abstrato decorrente de sua soberania”. Por expressa determinação da Carta Magna outorgada em 1988, tais poderes do Estado são o poder Legislativo, Executivo e Judiciário, os quais se apresentam harmônicos e independentes entre si, porém interligados, ou seja, qualquer “invasão” na esfera de outro poder deve resultar de previsão constitucional, em nome do princípio da separação dos poderes.
Ao Executivo, portanto, atribui-se a função administrativa. Para que haja desempenho das funções estatais com vistas ao atendimento das finalidades previstas na lei, à Administração Pública se confere poderes.
Como afirma Meirelles (2004, p.103), “o poder administrativo, portanto, é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares que se opõem ao interesse público”. Desta forma, “o poder de agir se converte no dever de agir”. O gestor público, estando subordinado ao ordenamento jurídico, não pode escolher se age ou não, pois tal decisão lhe é imposta, assim
o poder tem para o agente público o significado de dever para com a comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que quem o detém está sempre na obrigação de exercitá-lo […] o poder do administrador público, revestindo ao mesmo tempo o caráter de dever para a comunidade, é insuscetível de renúncia pelo seu titular. Tal atitude importaria fazer liberalidades com o direito alheio, e o Poder Público não é, nem pode ser, instrumento de cortesias administrativas. (MEIRELLES, 2004, p.103).
Para Di Pietro (2003), tais poderes são concedidos também para garantir a posição de supremacia sobre o particular, sem os quais os fins da Administração não seriam atingidos. Dentre estes poderes, encontra-se o poder vinculado e o poder discricionário.
O poder vinculado se verifica quando a lei determina que o administrador público deve agir de acordo com as previsões legais, ou seja, atrela a atuação administrativa à lei, não deixando nenhuma margem de liberdade de opção ao administrador.
Carvalho Filho (2002, p.103) afirma que “quando o agente administrativo está ligado à lei por um elo de vinculação, seus atos não podem refugir aos parâmetros por ela traçados”. Deve, assim, o agente pautar sua conduta na determinação legal, sob pena de não atendimento ao interesse público, resguardado na lei. Diz ainda que “sendo assim, o agente não disporá de nenhum poder de valoração quanto ao motivo e ao elemento do ato, limitando-se a reproduzi-los no próprio ato”.
Segundo Di Pietro (2003, p.204), na prática de ato vinculado “a Administração deve demonstrar que o ato está em conformidade com os motivos indicados na lei”, porque os atos vinculados, assim como os discricionários, devem se submeter ao princípio da legalidade. Tudo isso se afirma porque “a Administração somente poderá fazer aquilo que a lei lhe permite”, de acordo com ensinamento de Tourinho (2004, p.17 apud Mello, 2000, p. 30).
Para Di Pietro (2003), a vinculação se apresenta quando a Administração deve agir de forma determinada, específica, diante dos requisitos previstos na lei e que é por esta razão que ela diz que “diante de um poder vinculado, o particular tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de um determinado ato, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à correção judicial”. Afirma ainda que:
a atuação da Administração Pública no exercício da função administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução possível diante de determinada situação de fato; ela fixa todos os requisitos, cuja existência a Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva.(DI PIETRO, 2003, p.205)
Medauar (2006, p.108), ao se referir à competência vinculada, assevera que “o ordenamento confere ao administrador um poder de decisão, mas predetermina as situações e condições, canalizando-o a uma só direção”. Ou seja, ao administrador que vá exercer a competência vinculada, só é dada uma solução, estando ele obrigado a adotar aquela decisão. É por tal razão que, ela diz ainda que “na doutrina se diz que há matérias de reserva legal absoluta, em que o vínculo da Administração ao bloco de juridicidade é máximo”.
No poder vinculado, o agente administrativo não se utiliza dos critérios de conveniência e oportunidade, que se apresentam a ele no exercício do poder discricionário, uma vez que lhe é imposta a adoção de medida determinada legalmente. Por tal adoção lhe ser obrigatória é que Soares (1999, p. 50) aduz que “a não-observância das exigências legais em relação ao ato vinculado, no que diz respeito ao motivo, à substância, à finalidade, ao tempo, à forma ou ao modo, importará na invalidação do ato administrativo […]”.
Mello (2003, p.393) conceitua atos vinculados como “aqueles em que, por existir prévia e objetiva tipificação legal do único comportamento da Administração em face de situação igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não interfere com apreciação subjetiva alguma”. E exemplifica com a aposentadoria do funcionário que completou 70 anos ou do que completou 60 e tem 35 anos de contribuição. À Administração só cabe analisar a presença dos requisitos, não realizando nenhum juízo de valor.
Em suma, existem casos em que a lei regula dada situação de forma a não deixar ao administrador público nenhuma margem de liberdade. A lei predetermina que a conduta a ser praticada deve ser tal e deve ser mesmo, sob de estar-se escapando das finalidades propostas pela lei, as quais visam ao atendimento do interesse da coletividade e ainda de estar violando princípios balizadores do nosso ordenamento, como o princípio da legalidade. Em tais casos, o administrador estará no exercício do poder vinculado ou no exercício da competência vinculada.
Contraposta à competência vinculada, tem-se a competência discricionária, a qual decorre da impossibilidade do legislador de prever todas as situações que, eventualmente, venham a ocorrer e reclamem uma solução administrativa para bem do atendimento do interesse público.
Meirelles (2004), inclusive, afirma ser esta a justificativa da atividade discricionária, qual seja a impossibilidade de o legislador arrolar na lei absolutamente todos os atos que a prática administrativa exige. E mais:
o ideal seria que a lei regulasse minuciosamente a ação administrativa, modelando cada um dos atos a serem praticados pelo administrador; mas, como isto não é possível, dadas a multiplicidade e diversidade dos fatos que pedem pronta solução ao Poder Público, o legislador somente regula a prática de alguns atos administrativos que reputa de maior relevância, deixando o cometimento dos demais ao prudente critério do administrador. (MEIRELLES, 2004, P.118)
Mello (2002, p. 33), corroborando de tal entendimento, aduz que “a única razão lógica capaz de justificar a outorga de discrição reside em que não se considerou possível fixar, de antemão, qual seria o comportamento administrativo”, mas não qualquer comportamento e sim aquele “pretendido como imprescindível e reputado capaz de assegurar, em todos os casos, a única solução prestante para atender com perfeição ao interesse público que inspirou a norma”.
Destarte, a lei consagra a discricionariedade, outorgando-a aos administradores públicos, para que possam valorar a situação concreta e optar pela que for mais conveniente e oportuna ao interesse público respaldado na lei, já que vai haver no procedimento de avaliação a aplicação de um juízo subjetivo pelo administrador, como se vê:
[…] a norma legal só quer a solução ótima, perfeita, adequada às circunstâncias concretas que, ante o caráter polifacético, multifário dos fatos da vida, se vê compelida a outorgar ao administrador – que é quem se confronta com a realidade dos fatos segundo seu colorido próprio – certa margem de liberdade para que este, sopesando as circunstâncias, possa dar verdadeira satisfação à finalidade legal (MELLO, 2003, p.35).
Di Pietro (2004, p.205) afirma que “a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o Direito”. Ocorre que isso não deve querer que, no exercício do poder discricionário, qualquer ato que o administrador praticar seja o mais conveniente e oportuno, mas que a escolha tem que ser pelo que melhor atenda ao fim proposto pela lei, como colocado por Mello (2003, p.33) quando confirma que “[…] o administrador está, então, nos casos de discricionariedade, perante o dever jurídico de praticar, não qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas, única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei”. E assim o é porque existe vinculação da Administração à lei, podendo-se verificar que:
no Estado de Direito e no modelo constitucional brasileiro – onde expressamente se estatui, no art. 5º, II, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei – todo desempenho administrativo (e assim também o chamado “poder discricionário”) só pode existir como um poder “intra” legal e estritamente dependente da lei, estritamente subordinado à lei (MELLO, 2003. p.13)
O poder discricionário conceituado por Carvalho Filho (2002, p.33) é “a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público”.
Diante de tal poder, a Administração pondera se aquele ato deve ser praticado ou não; se, com a sua prática, faz atendimento ao interesse público e se o momento de atuação é aquele ou tem outro que melhor atende. Tal análise se faz de acordo com os critérios da conveniência e oportunidade, uma vez que à Administração Pública se confere certa liberdade na solução do caso concreto.
Gasparini (2004, p.95) assevera que “ante essa competência, a Administração poderá deferir, deferir com condições ou não deferir pedido que lhe fora feito por determinado administrado, já que se lhe permite avaliar a solicitação formulada segundo os referidos critérios […]”.
A discricionariedade, para Medauar (2006, p. 111), “significa uma condição de liberdade, mas não liberdade ilimitada; trata-se de liberdade onerosa, sujeita a vínculo de natureza peculiar. É uma liberdade-vínculo”. Não se trata, portanto, de uma liberdade sem limites, uma vez que os fatos se encarregam de fixar limites à atuação no caso concreto, pois o fato de existirem várias condutas possíveis, não implica em dizer que qualquer uma delas pode ser aplicada em todos os casos. Assim sendo, “com base em habilitação legal, explícita ou implícita, a autoridade administrativa tem livre escolha para adotar ou não determinados atos, para fixar o conteúdo de atos, para seguir este ou aquele modo de adotar o ato, na esfera da margem livre”.
Quando do exercício da atividade discricionária, é imperativo que o agente público avalie a situação prática de forma bastante criteriosa, não deixando de considerar que o objetivo precípuo da lei, o qual seja o atendimento do interesse público. Soares (1999, p. 60) ressalta que “a lei, ao proteger o interesse público, vincula o agente, mesmo naquilo que diz respeito à liberdade de atuação quanto à conveniência e oportunidade”. Diz ainda que:
ao escolher entre duas opções, a administração pública deve praticar aquela que mais convenha ao interesse público, a que represente a solução mais justa, mais adequada, mais eficaz e que se revele em consonância com a moral administrativa, e não a que seja mais conveniente e oportuna aos interesses pessoais de administrador público (SOARES, 1999, p. 61)
Mello (2003, p. 395) define discricionariedade como “a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica […], a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal”. E mais:
ao agir discricionariamente o agente estará, quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é simultaneamente um dever), cumprindo a determinação normativa sobre o melhor meio de dar satisfação ao interesse público por força da indeterminação legal quanto ao comportamento adequado à satisfação do interesse público (MELLO, 2003, p. 395)
Certamente o legislador sempre vai conferir a atuação discricionária nos casos em que as circunstâncias reais, que exigem regulamentação, são dificilmente previsíveis, não podendo ele prever todas as situações sociais que devem ser resguardadas pelo Estado. O processo moroso de elaboração das normas no Brasil não pode receber mais essa função; as situações mudam numa rapidez incrível, os problemas sociais crescem a cada dia e, nesse diapasão, a coletividade precisa do acolhimento da lei. Desta forma, o poder discricionário é exercido num contexto em que se deve observar a conveniência e a oportunidade das soluções legalmente possíveis, como afirma Medauar (2006).
A conveniência e oportunidade que norteiam a atividade discricionária compõem o mérito administrativo. Segundo Carvalho Filho (2002, p. 34) “são os elementos nucleares do poder discricionário, sendo que “a primeira indica em que condições vai se conduzir o agente; a segunda diz respeito ao momento em que a atividade deve ser produzida”.
De acordo com Campos (2005), em seu artigo intitulado “Discricionariedade administrativa: limites e controle jurisdicional”, o mérito do ato administrativo “é o produto de um juízo de valor realizado pela autoridade pública, quanto às vantagens e conseqüências, as quais deverão ser levadas em conta como pressuposto da atividade administrativa”.
Seguindo os ensinamentos de Mello, mérito é:
o campo de liberdade suposto na lei e que, efetivamente, venha a remanescer no caso concreto, para que o administrador, segundo critérios de conveniência e oportunidade, se decida entre duas ou mais soluções admissíveis perante ele, tendo em vista o exato atendimento da finalidade legal, dada a impossibilidade de ser objetivamente reconhecida qual delas seria a única adequada (MELLO, 2003, p. 823)
Conceitualmente, ainda, Meirelles (2004, p.152 apud Campos, 2005) afirma que o mérito do ato administrativo “consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência e oportunidade e justiça do ato a realizar”.
A discricionariedade só existe quando a lei permite, torna legítima a atuação administrativa. Di Pietro afirma que, normalmente, a discricionariedade existe:
quando a lei expressamente confere à administração […]; quando a lei é omissa porque não lhe é possível prever todas as situações supervenientes ao momento de sua promulgação, hipótese em que a autoridade deverá decidir de acordo com os princípios extraídos do ordenamento jurídico e, quando a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a conduta a ser adotada (DI PIETRO, 2004, p. 206)
Desta forma, como assegura Mello (2003, p. 399), a discricionariedade existe, única e tão-somente para ajustar em cada caso concreto a opção pela melhor providência, ou seja, “daquela que realize superiormente o interesse público almejado pela lei aplicanda”. Não pode o administrador procurar atender seus interesses particulares e pessoais em detrimento do interesse de toda uma coletividade. Não é uma liberdade irrestrita, “não é uma liberdade para a Administração decidir a seu talante, mas para decidir-se do modo que torne possível o alcance perfeito do desiderato normativo”.
2.2 Discricionariedade na evolução do Estado
A primeira fase de Estado Moderno foi chamada de Estado de Polícia, onde se adotou o regime monárquico absolutista. A atividade administrativa era totalmente discricionária, não sendo necessário se pautar na lei, uma vez que a preocupação da época não era com a legalidade dos atos, mas sim com a conveniência.
Para atender à coletividade, o administrador não encontrava limites na lei, nem em nenhum outro instrumento jurídico. Ele procurava atender às necessidades sociais e, para isso, podia fazer o que compreendesse suficiente para que tais fins fossem atingidos.
Ocorre que essa prática não podia continuar. Era compatível com a Europa dos séculos XV a XVIII. As pessoas não podiam cobrar nada do administrador porque nenhuma lei embasava a luta pelos seus direitos, não tinham segurança, já que o ato era praticado e podia ser desfeito a qualquer tempo pelo administrador, não resguardando o direito do administrado.
Surgiu, então, a necessidade de se limitar a atividade da Administração porque sem obedecer a nenhum regramento, as práticas eram arbitrárias, ferindo direitos dos administrados, que nada podiam reivindicar nem cobrar, pois nada estava positivado.
Com a Revolução Francesa e a difusão dos três ideais (liberdade, igualdade e fraternidade) que lhe deram feição, começou-se a pensar nos direitos individuais dos cidadãos, os quais não podiam mais continuar desamparados, a mercê da ação política. Krell (2004, p. 17) aduz que “a partir da pragmática teoria da separação dos Poderes, começou-se a impor limites às atividades dos órgãos estatais, especialmente da Polícia, tudo em defesa dos direitos dos cidadãos”.
Como afirma Soares (1999, p.13), “o ato inteiramente discricionário passa a ser repudiado nas diferentes legislações”. O ato que não precisava seguir nenhum parâmetro e, consequentemente, não se subordinava a nenhum tipo de controle, muito pelo contrário, era praticado, na maioria das vezes, para atender interesses pessoais dos administradores ou qualquer outra finalidade por eles determinada, mas que nem sempre refletia o interesse público.
Não fazia mais sentido a atuação desregrada do Executivo, na medida em que as demandas individuais exigiam tratamento que tomasse como base os direitos individuais do cidadão propugnados com o advento da Revolução Francesa, como esclarecedoramente explica Medauar:
[…] com a dinâmica estatal intervencionista, ampliam-se as atividades administrativas; um número crescente de medidas e decisões afeta direitos e interesses de indivíduos e grupos. O contexto político-institucional das décadas de 70, 80 e 90 apresenta-se muito diferente do contexto do início do século. A realidade atual registra a existência de inúmeros centros de interesse na sociedade e a ampliação dos direitos de indivíduos, de grupos e de direitos difusos. É notória a heterogeneidade de interesses, acarretando pressões de indivíduos e grupos sobre a Administração para atendimento de suas reivindicações […] (MEDAUAR, 2006, p. 110).
Surge, então, a segunda fase do Estado Moderno, que é o Estado de Direito. Carvalho Filho (2002) assegura que esse novo Estado se baseia no fato de que, ao mesmo tempo em que ele cria o direito, deve estar sujeito a ele. Com essa afirmação, ele consigna o princípio da legalidade e, por essa razão, Medaur (2006, p. 111) ressalta que “hoje no âmbito de um Estado de Direito é impossível cogitar-se de poder discricionário fora do direito, subtraído a toda disciplina legal”, porém, existe um obstáculo a transpor. Compartilhando do mesmo entendimento, Mello (2003) vem afirmar que num Estado de Direito a Administração tem que se apoiar na lei e almejar sempre cumpri-la fielmente, uma vez que a Administração deve obediência à lei.
Conforme Krell (2004, p. 17), “o grande desafio do jovem Estado de Direito era conciliar a tradicional liberdade decisória do Executivo com a observância do princípio da legalidade”. E isso era necessário diante das novas circunstâncias, pois a atividade plenamente discricionária era sinônimo de arbitrariedade, e meio através do qual os administradores públicos alcançavam seus interesses privados em detrimento do interesse público, que é o fim primordial da lei. Ocorre que, o poder cegava os administradores. Eles percorriam numa busca incessante apenas por suas satisfações pessoais, deixando a coletividade de lado, quando agiam ao arrepio da lei.
Primordial nessa nova fase do Estado era tentar imprimir um caráter de segurança às condutas praticadas e às decisões tomadas pelo administrador público para evitar que o administrado fosse surpreendido com uma nova decisão a cada dia, de acordo com a conveniência do agente público. Afirmou Kelsen (2000, p. 346 apud Tourinho, 2004, p. 26) que “a expressão Estado de Direito é efetivamente utilizada para designar um tipo especial de Estado, que seria aquele capaz de satisfazer os requisitos da democracia e da segurança jurídica”, o que pode ser entendido como “uma ordem jurídica centralizada onde a jurisdição e a administração estão vinculadas às leis”.
A lei baliza aquilo que pode e o que não pode ser feito, não podendo o exercente da atividade administrativa, olvidar do dever de observância das disposições normativas. Importa salientar que o Estado de Direito foi marcado por uma fase mais liberal; o princípio da legalidade de forma extensiva. Era dado ao administrador público não só fazer aquilo que a lei permitia, mas também aquilo que a lei não proibia, ou seja, continuava ele a fazer tudo que entendesse por bem, já que não havia vinculação.
Devido à instituição dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade na Revolução Francesa, a preocupação era com as liberdades individuais, favorecendo o individualismo, porém o Estado continuava impotente diante dos conflitos sociais. Urgia, então, uma resposta prática a essa nova situação.
Avançou-se para a fase chamada Estado Social de Direito. Segundo Tourinho (2004), foi fase marcada pela atribuição de buscar a igualdade, como forma de ajudar aqueles mais necessitados, ficando a igualdade sobreposta à liberdade, uma vez que se limitava o exercício dos direitos individuais em benefício do bem-estar coletivo. Assevera Tourinho (2004, p 28) ainda que, “nesta fase […] instalou-se a idéia de socialização, que significa a busca do interesse público, em oposição ao individualismo que imperou no Estado Liberal”. Com nova concepção acerca do Estado, as finalidades que se buscava atingir com relação à sociedade que ansiava por soluções práticas e eficazes para suas demandas não seriam alcançadas se o olhar não fosse global, ou seja, se fosse privilegiada a resolução dos problemas de forma individualista.
Nesta ocasião, à Administração não era mais dado fazer tudo o que estivesse determinado em lei e tudo o mais que a lei não proibisse. Só podia a atuação administrativa se pautar em previsões legais, o que quer implicar em que só se poderia fazer aquilo que a lei permitisse. A discricionariedade, então, encontrou limites e não era mais encarada como prática arbitrária.
O Estado Social de Direito foi incapaz de gerir todas as situações postas sob sua responsabilidade, vindo a fracassar. Inclinou-se, novamente, a retomada ao Estado de Direito que, agora, não poderia ser concebido sem as influências do ideal de democracia. A essa última fase dá-se o nome de Estado Democrático de Direito.
Conforme Tourinho (2004, p. 29), “a democracia implantada pelo Estado Democrático de Direito é um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária, em que o poder emana do povo, devendo ser exercido em seu proveito […]”. Uma Administração Pública onde se busque atender interesses pessoais e particulares dos seus gestores públicos é completamente descabida, na medida em que se deve precipuamente atender às necessidades públicas, com o poder derivando dos próprios interessados e dos que devem ser os beneficiários.
Soares (1999) ressalta que nessa atual fase do Estado, ele deve objetivar priorizar os direitos e garantias do cidadão, agindo não só em conformidade com a lei, mas sim com todo ordenamento jurídico, inclusive com os princípios constitucionais e os demais que regem a atuação da Administração Pública. E mais:
o Estado Democrático de Direito pressupõe a garantia do cidadão diante do poder estatal, em face das normas jurídicas. A soberania popular ganha realce e não se pode conceber qualquer ato emanado da autoridade pública que seja desconforme a essa vontade popular, violando o princípio da moralidade administrativa (SOARES, 1999, p. 66).
O desafio, portanto, era conciliar as liberdades individuais com as aspirações sociais e tudo isso aliado à participação do povo, uma vez que o que vigorava eram os seus direitos. O bem-comum haveria de ser tutelado nesse novo Estado. Outro não poderia ser o entendimento de Soares, o qual assinala que
a Constituição elege, em seu preâmbulo, o bem-estar como um dos valores supremos a ser assegurado pelo Estado Democrático e, no seu art. 3º, assenta como objetivos fundamentais, entre outros, uma sociedade livre, justa e solidária, e o bem de todos. Os atos administrativos devem estar voltados à observância de tais princípios, atendendo ao fim maior do Estado, ou seja, a conquista e manutenção do bem-estar comum, a distribuição da justiça e da paz social (SOARES, 1999, p. 61).
2.3 Fundamentos da discricionariedade
Há divergência doutrinária quanto a quais sejam os fundamentos da discricionariedade administrativa.
Di Pietro (2004) utiliza uma justificação que também é usada por Medaur (2006). Defende Di Pietro que a discricionariedade existe para evitar que a aplicação das normas tenha que ser de forma rígida, com as disposições já determinadas, o que transformaria a atuação dos agentes administrativos em algo mecânico, vez que ao legislador não é possível prever todas as situações da vida administrativa. Outrossim, Medaur afirma que as funções políticas e administrativas não obteriam êxito no seu desempenho se a lei previsse tudo de forma completa. Essa análise é feita por um ponto de vista prático, como denominou Di Pietro.
Por outro ângulo, ainda segundo Di Pietro (2004), pode-se analisar o ponto de vista jurídico, também considerado por Tourinho (2004, p. 33), apesar de esta entender que tal ponto de vista se reflete no fato de que “caso fosse possível ao legislativo prever todas as possibilidades de ocorrência, guinado, minuciosamente, o administrador teríamos a substituição de um órgão do poder por outro”, e assim, o Legislativo daria ordens ao Executivo, que teria que cumpri-las, o que geraria violação ao princípio da separação dos poderes.
O fundamento jurídico para a existência da discricionariedade no entender de Di Pietro (2004) é a teoria da formação do Direito por degraus de Kelsen. Ela diz que no sistema jurídico brasileiro existe a Constituição que é a norma de grau superior, e que, a partir dela, outras são editadas até a aplicação no caso concreto; em cada uma dessas etapas, acrescenta-se um novo elemento, possível por causa da discricionariedade.
É de acatar-se, portanto, que
a norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções (sob todos os aspectos) o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior ora menor, de livre apreciação, de tal forma que a norma de escalão superior tem sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato. Mesmo uma ordem o mais pormenorizada possível tem de ter àquela que a cumpre ou executa uma pluralidade de determinações a fazer. Se o órgão A emite um comando para que o órgão B prenda o súdito C, o órgão B tem de decidir, segundo o seu próprio critério, quando, onde e como realizará a ordem de prisão, decisões essas que dependem de circunstâncias externas que o órgão emissor do comando não previu e, em grande parte, nem sequer podia prever (KELSEN, 2000 apud TOURINHO, 2004, p.32).
Dessa forma, inegável é que a norma superior ofereça os limites para a aplicação do ato, os moldes dentro do qual ele poderá ser praticado. Latente também é que necessário se faz a presença de uma margem onde a apreciação pelo administrador seja livre, valorando o cabimento e o momento em que o ato deve ser praticado sem esquecer de observar o fim último da lei, qual seja o atendimento do interesse público. Nesse diapasão, Di Pietro (2004, p. 206) assegura que “a discricionariedade é indispensável para permitir o poder de iniciativa da Administração, necessário para atender às infinitas, complexas e sempre crescentes necessidades coletivas”, porquanto, “a dinâmica do interesse do interesse público exige flexibilidade de atuação”.
A discricionariedade é prerrogativa imprescindível ao exercício da atividade administrativa porque só o agente público pode adotar a melhor solução no caso concreto, vez que, como afirmou Medauar (2006), é fundamental a maleabilidade conferida pela atuação discricionária porque se vive uma época de grandes transformações, desde problemas corriqueiros, porém que exigem solução rápida a grandes tragédias. Esse é mais um fundamento de alguns doutrinadores, mencionado por Mello (2003, p. 824) quando diz que é imperativa a liberdade de decisão da Administração no caso concreto, “tendo em conta sua posição mais favorável para reconhecer, diante da multiplicidade dos fatos administrativos, a melhor maneira de satisfazer a finalidade da lei nas situações empíricas emergentes”.
Há ainda uma classe de fundamento que é o de ordem lógica e que, consoante Tourinho (2004, p. 32) vem a sustentar “a impossibilidade de o legislador fixar o alcance de todos os conceitos utilizados na linguagem normativa”, dizendo respeito aos conceitos jurídicos indeterminados, fluidos, vagos e imprecisos, que são aqueles que não apresentam sentido objetivo e preciso, mas sim incerto. É preciso, por conseguinte, buscar a essência do conceito jurídico indeterminado, sua parte de certeza, e, para tanto, no exercício da competência discricionária, como esclarece Queiró (1940, p. 24 apud Tourinho, 2004, p. 32) “é logicamente necessário que, nos limites da incerteza conceitual, o agente deva fixar-se, ele próprio, numa das interpretações possíveis, e, tendo-a fixado, deva agir consequentemente”.
Em suma, Mello afirma que
o fundamento da discricionariedade (ou seja, a razão pela qual a lei a institui) reside, simultaneamente, no intento legislativo de cometer ao administrador o encargo, o dever jurídico, de buscar identificar e adotar a solução apta para, no caso concreto, satisfazer de maneira perfeita a finalidade da lei e na inexorável contingência prática de servir-se de conceitos pertinentes ao mundo do valor e da sensibilidade, os quais são conceitos chamados vagos, fluidos e imprecisos (MELLO, 2003, p. 826).
2.4 Discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados
Existem conceitos utilizados em normas jurídicas, portanto, conceitos jurídicos que, como a discricionariedade administrativa, precisam ser valorados, ou seja, necessitam que o administrador público analise a conveniência a oportunidade na hora de aplicá-los. Estes conceitos não oferecem um padrão de objetividade, mas de subjetividade, como assegura Tourinho (2004, p. 38) “possuem uma inequivocidade difícil de ser alcançada, ou seja, tem um campo amplo de significação, necessitando de uma atividade interpretativa para se obter o seu real sentido”. São chamados de conceitos jurídicos indeterminados.
Conceitos jurídicos indeterminados são signos vagos, incertos, imprecisos, que podem ser analisados amplamente e que, por tal razão, podem ser aplicados nas mais diversas situações, nas quais se possa adequar o seu sentido.
Adeodato (2002, p. 280 apud Krell, 2004, p. 33) afirma que “são opiniões mais ou menos indefinidas a que, ainda assim ou talvez justamente por isso, a maioria empresta sua adesão, ao mesmo tempo que preenche os inevitáveis pontos escuros e ambíguos com sua própria opinião pessoal”.
Segundo Carvalho Filho (2002, p. 37), “são termos ou expressões contidos em normas jurídicas, que, por não terem exatidão em seu sentido, permitem que o intérprete ou o aplicador possam atribuir certo significado, mutável em função da valoração que se proceda diante dos pressupostos da norma” ou ainda “são aqueles cujo âmbito se apresenta em medida apreciável incerto, encerrando apenas uma definição ambígua dos pressupostos a que o legislador conecta certo efeito de direito”.
Medauar (2006) assegura que não é o conceito que não se pode determinar, pelo contrário, pode-se aferir o seu significado; o que é impossível é adequar anteriormente os conceitos fluidos às situações vindouras, portanto, afirma Soares (1999, p.15) que “ao aplicá-los, o administrador terá de valer-se da exegese para precisar seu verdadeiro sentido e limites […]”.
Discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados não são a mesma coisa, embora apresentem semelhanças. Na discricionariedade, o legislador estabelece a situação jurídica e confere ao gestor da coisa pública a margem de liberdade de optar pela atuação ou conduta mais oportuna e conveniente, para atender àquela situação jurídica proposta; nos conceitos jurídicos indeterminados, a lei dá opções para o administrador adequar diversos fatos a uma noção subjetiva, que pode variar de acordo com a interpretação do aplicador da lei.
Perfilhando de tal entendimento, aduz Carvalho Filho (2002) que
enquanto o conceito jurídico indeterminado situa-se no plano da previsão da norma (antecedente), porque a lei já estabelece os efeitos que devem emanar do fato correspondente ao pressuposto nela contido, a discricionariedade aloja-se na estatuição da norma (conseqüente), visto que o legislador deixa ao órgão administrativo o poder de ele mesmo configurar esses efeitos (CARVALHO FILHO, 2002, p. 37).
Diz ele ainda que o fundamento para a confusão que tem sido feita com relação à discricionariedade e aos conceitos jurídicos indeterminados é que eles fazem parte das atividades da Administração que não são vinculadas, vez que não oferecem padrão de objetividade e, por tal razão, implicando na adoção de uma atividade interpretativa.
Passou-se então a discutir a relação existente entre os dois institutos; formaram-se posicionamentos divergentes. A questão era saber se na utilização de conceitos jurídicos indeterminados, caberia a discricionariedade.
É de observar-se que as discussões acerca dos conceitos jurídicos indeterminados não se iniciaram aqui no Brasil. Surgida na Áustria, no século XIX, a doutrina dos conceitos jurídicos indeterminados levou à verificação da presença da discricionariedade ou não nos referidos conceitos vagos. Nisso, divergiam os doutrinadores. Alguns, afirmavam não poder o Judiciário revisar as decisões dos órgãos competentes, a quem competia a delimitação do sentido do conceito empregado; outros, no entanto, afirmavam que era ao Judiciário que cabia tal interpretação.
Hodiernamente, continua sendo controvérsia a possibilidade de existir discricionariedade nos conceitos jurídicos indeterminados.
Enterría e Fernández (2000, p. 457 apud Tourinho 2004) afirmam que o essencial do conceito indeterminado é que sua indeterminação não se refere à aplicação. Por necessitar de uma atividade interpretativa para encontrar a solução adequada ao caso concreto, só tem cabimento uma única solução justa capaz de atingir o objetivo da lei. Mello (2002), adotando o posicionamento de autores germânicos, assegura que no caso concreto, não se pode falar em fluidez de conceitos, pois, diante da realidade, se deve determinar o sentido do conceito aparentemente abstrato, tornando-o inequívoco.
Assim, os citados doutrinadores germânicos, admitem uma unidade de solução diante da situação concreta, posta, o que diferentemente se verifica na discricionariedade. Eles, segundo Tourinho (2004, p. 43) aduzem que “na aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados não há um processo volitivo, como ocorre na discricionariedade, mas sim, um processo de aplicação e interpretação da lei”.
Há quem diga, no entanto, que tal entendimento não deve ser extremado. Casos haverá em que realmente uma única solução será aplicável, vez que apenas ela atende ao fim propugnado na lei; em outros, não será possível a aplicação de um sentido determinado, como se verifica em Mello (2002, p. 22) quando afirma que “em inúmeras situações, mais de uma situação seria razoavelmente admissível, ao se podendo afirmar, com vezos de senhoria da verdade, que um entendimento divergente do que se tenha será necessariamente errado, isto é, objetivamente reputável como incorreto”. Em suma, entende o autor que, a depender da situação, pode ou não haver uso da discricionariedade na aplicação dos conceitos imprecisos, como denomina.
Por outro lado, há quem afirme que a discricionariedade tem origem nos conceitos jurídicos indeterminados. Queiró (1940, p. 50 apud Tourinho 2004, p. 39) conceitua a discricionariedade como sendo “uma faculdade de escolher uma entre várias significações contidas num conceito normativo prático, relativo às condições de fato do agir administrativo”. Di Pietro (2004), igualmente, aduz que, nas hipóteses de conceitos de valor, como interesse público, medidas urgentes, moralidade, etc., poderia haver discricionariedade, embora limitada, já que os referidos conceitos apresentam um mínimo de certeza em seu conteúdo; tanto é assim que, conforme Rozas (2006), em seu artigo, intitulado “Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa”, nesses casos, o controle judicial é um contorno de limites, sendo dado ao Judiciário apenas verificar se a escolha feita pela Administração se manteve nos lindes do razoável.
Outrossim, consoante afirmação de Oliveira,
nessas hipóteses, caberá ao juiz adentrar ao exame das provas, a análise das controvérsias que lhe são submetidas, até onde tiver elementos seguros de interpretação […] é possível ao magistrado afirmar que o administrador não atribuiu o alcance correto de certo conceito jurídico indeterminado no caso concreto, sob pena de substituir, indevidamente, o administrador (OLIVEIRA, 1992, p. 85 apud TOURINHO, 2004, 44)
Destarte, nem sempre que se estivesse diante de um conceito que não pudesse ser determinado ou que comportasse adequação a mais de uma situação, estar-se-ia exercendo a atividade discricionária, e se o Judiciário fosse definir cada um dos conceitos quando da sua aplicação, como teria que acontecer para haver vinculação, violar-se-ia o princípio da separação de poderes.
Certo é que não pode afirmar que sempre diante de um conceito jurídico indeterminado haveria discricionariedade, como assevera Machado (2004, p. 116 apud Tourinho, 2004, p. 43), “ao aplicarmos um conceito jurídico indeterminado, estamos no domínio do princípio da legalidade, enquanto que no exercício da discricionariedade, já nos encontramos no setor regido pelo princípio da oportunidade”. Desta forma, ainda segundo ele, “a decisão tomada no exercício de um poder discricionário não pode confundir-se com a decisão tomada em aplicação de uma norma que exige preenchimento valorativo por utilizar conceitos indeterminados ou estar elaborada na fórmula de cláusula geral”, contudo,
se em determinada situação real o administrador reputar, em entendimento razoável (isto é, comportado pela situação, ainda que outra opinião divergente fosse igualmente sustentável), que se lhe aplica o conceito normativo vago e agir nesta conformidade, não se poderá dizer que violou a lei, que transgrediu o direito. E se não violou a lei, se não lhe traiu a finalidade, é claro que terá procedido na conformidade do direito. Em assim sendo, terá procedido dentro de uma liberdade intelectiva que, in concreto, o direito lhe facultava. Logo, não haveria título jurídico para que qualquer controlador de legitimidade, ainda que fosse o Judiciário, lhe corrigisse a conduta […] (MELLO, 2002, p. 23).
Ora, com relação ao controle dos atos que comportem conceitos jurídicos indeterminados, pode-se dizer que
o Judiciário tanto interpreta a lei – para corrigir atos que desbordem das possibilidades abertas pela moldura normativa – nos casos em que verifica se os conceitos vagos ou imprecisos foram apreendidos pela Administração dentro da significação contextual que comportavam, como quando, para os mesmos fins, verifica se a opção de conveniência e oportunidade se fez sem desvio de poder, isto é, obséquios às finalidades da lei […] em ambos os casos o Judiciário pratica, desde logo, o ato de intelecção da lei, interpretando-a confrontando-a com o caso concreto, para aferi se foi bem ou mal aplicada […] se for o caso, terá de concluir que o ato administrativo não é passível de censura porque a Administração atuou dentro da esfera legítima, isto é, dentro do campo de liberdade (intelectiva ou volitiva) que a lei lhe proporcionava, seja porque não excedeu a esfera de intelecção razoável de um conceito fluido, seja porque não se excedeu ao decidir que tal ou qual comportamento era o mais conveniente e oportuno, por ter se mantido dentro dos limites da razoabilidade (MELLO, 2002, p.27)
Ainda perfilhando do entendimento esposado pelos autores que não concordam que discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados sejam a mesma coisa, Tourinho (2004) ensina que diante dos conceitos do valor, o intérprete da lei deverá exercer a sua atividade de interpretação, buscando alcançar o sentido que se aplique ao caso concreto, vez que a variação do mesmo ocorre de acordo com o tempo e o espaço, sendo sempre voltado para o entendimento da sociedade como um todo. E, a partir dessa análise, chegará a uma única solução possível, ressaltando a autora a distinção entre a discricionariedade, a qual se configura pela possibilidade de diversas soluções justas, de acordo com a conveniência e oportunidade, eleitas pelo administrador público.
Adverte ela, ainda, que “em se tratando de conceitos jurídicos indeterminados, obviamente que nem sempre o processo interpretativo da norma jurídica levará a uma solução indubitável”, ou seja, algumas vezes várias podem ser as soluções possíveis, embora nem nessas situações se possa afirmar estar diante de um caso de discricionariedade, visto que como bem esclarece Sousa (1994), às vezes, está-se
perante uma situação existente (algo que já existe) que apenas tem de ser declarada (constatação de um “ser”) para legitimar uma atuação administrativa […] à Administração não resta qualquer liberdade para criar seja o que for (característica de quem é livre), mas apenas lhe compete o poder-dever de constatar um realidade existente (SOUSA, 1994, p. 97 apud TOURINHO, 2004, p. 47)
Há, entretanto, quem considere que deve ser observada a situação real e, a partir dela, constatar se tem cabimento a discricionariedade ou não.
Assevera Medauar (2006, p. 115) que, “havendo parâmetros de objetividade para enquadrar a situação fática na fórmula ampla, ensejando uma única solução, não há que se falar em discricionariedade”. Em contrapartida, “se a fórmula ampla, aplicada a uma situação fática, admitir margem de escolha de soluções, todas igualmente válidas na noção, o poder discricionário se exerce”. Ocorre que aí estar-se-ia igualando a aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados à discricionariedade, o que, como já discutido, não é o mais adequado.
Para estes doutrinadores que acreditam que deve haver uma ponderação, parece que o mais coerente, no caso em comento, as duas atividades devem ser vistas como fenômeno interligado, conforme Mancuso (1992. p. 70 apud Krell, 2004, p.35), “visto que, muitas vezes, o órgão administrativo deve lançar mão desta para preencher aqueles”.
Em suma, de acordo com Rozas (2006), em seu trabalho intitulado “Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa”, de um lado há aqueles que são adeptos da teoria da univocidade, quais sejam os que sustentam que na interpretação e aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados, só há uma única solução justa e correta; de outro, há os adeptos da teoria da multivalência, os que pensam que, como na discricionariedade, existe pluralidade de soluções justas, corretas e aplicáveis, diante de um conceito vago ou ambíguo.
E como tem se comportado os tribunais brasileiros no que respeita a tal discussão? Consoante a já mencionada autora, a jurisprudência brasileira tem entendido que a existência de conceitos jurídicos indeterminados não pode retirar do Poder Judiciário a função de controlar se a aplicação dos conceitos amplos desbordou dos limites impostos pela lei, quanto ao atendimento do interesse público, embora possa haver discricionariedade, senão vejamos:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE DEMONSTRE O INTERESSE PÚBLICO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE MANTIDO. RECURSO PROVIDO.1.” O assento regimental nº 1/88, no art. 8º, estabelece o critério de antiguidade para a remoção de magistrado, no caso de mais de um interessado pleitear a remoção para uma única vaga. Critério não absoluto, haja vista a disposição: “salvo relevante interesse público, devidamente justificado”. 2. Viabilidade do controle do Poder Judiciário acerca de conceitos jurídicos indeterminados e do motivo do ato administrativo. 3. Ausência de demonstração de prejuízo ao serviço forense a justificar o afastamento do critério de antiguidade. 4. Recurso ordinário provido”. (STJ, 5ª Turma, RMS 19590/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 02/02/2006).
Com o objetivo de efetivar o controle, a jurisprudência vem utilizando critérios diversos com variações no que respeita à linha de argumentação e à profundidade do controle dos tais conceitos jurídicos indeterminados, como bem reconhece Ohlweiler (2000, p. 40 apud Krell, 2004, p.36). Um exemplo disso é o atendimento dos três anos de atividade jurídica que se exige para que o bacharel em Direito ingresse na magistratura ou nas carreiras do Ministério Público, que ainda não foi regulamentado oficialmente pelos órgãos competentes, quais sejam o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, mas que já são regulamentados por alguns concursos, seguindo julgamento de ADIN pelo STF, considerando constitucional a exigência da totalidade da atividade, ou seja, os três anos, depois do bacharelado e da comprovação desta no momento da inscrição.
Enquanto isso, o que desbordar desses limites, será objeto do controle jurisdicional, confirmando a máxima que os atos administrativos, sejam eles praticados no exercício da atividade discricionária ou vinculada, devem ser controlados pelo Poder Judiciário, pois, “no momento em que o legislador utiliza-se desses conceitos, ele não está nada mais que legitimando o comportamento da Administração, cabendo a esta tão-somente realizar um trabalho de constatação, plenamente subordinado ao controle jurisdicional”, de acordo com Lucian (2004), em artigo intitulado “A discricionariedade administrativa e os conceitos jurídicos indeterminados”.
Desta forma, Tourinho (2004), assegura que a posição adotada majoritariamente de se distinguir os conceitos jurídicos indeterminados da discricionariedade, harmoniza-se com os ideais do Estado de Direito de atender concretamente, através da lei, as vontades coletivas e não apenas os interesses individuais, fazendo-se necessário que as leis fossem precisas, duráveis e previsíveis, que possibilitassem certa segurança, uma vez que isso reduz o campo de discricionariedade.
Afinal, de acordo com os ensinamentos do mestre Carvalho Filho (2002, p. 38), considerando-se “justamente a ausência de standards de objetividade tanto na discricionariedade quanto na aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados, surgem como mecanismos de controle os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, por meio dos quais, inclusive, será possível “evitar excesso de poder e adequação da conduta ao fim a que a norma se destina”.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante tudo que foi exposto, pode-se afirmar, portanto, que a concessão da discricionariedade, uma vez que ela é um poder-dever conferido ao administrador público, não atuar em prol do seu interesse pessoal, mas sim, analisar se o ato é ou não oportuno e se o momento é adequado ou não, para o melhor atendimento do interesse público.
No Estado Democrático de Direito, não se concebe uma atuação desgrada; ao contrário, além de dever obediência à lei, deve ainda obediência aos princípios que regem o sistema da Administração, tendo sida conferida a discricionariedade, diante da impossibilidade do administrador poder valorar todas as situações que podem vir a acontecer concretamente. E, se não pode prever, deve conferir uma margem de liberdade, dentro da qual, poderá agir o administrador para atingir o interesse público protegido pela lei, sob pena de estar-se cimentando a atividade administrativa com a previsão normativa de todas as situações.
Para que tal medida se efetive, no entanto, necessária a conscientização daquele que gere a sociedade, que tem o poder nas mãos para utilizá-lo de forma a atender o melhor interesse público, ou seja, o interesse público da melhor forma possível e não cometer ilegalidades, ao violar a lei e continuar nessa busca incessante para alcançar seus interesses particulares. Assim, poder-se-ia imprimir às relações sociais travadas no âmbito da Administração Pública, um caráter de segurança jurídica, até para que o administrador público se legitimasse a reclamar por seus direitos.