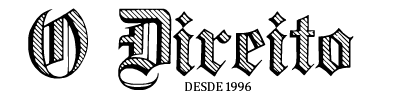I – INTRODUÇÃO1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS2.A DISCIPLINA DA MATÉRIA NO NOVO CÓDIGO3.A QUESTÃO DA CULPA NA CLÁUSULA GERAL DO ART. 186 …4.ATOS ILÍCITOS – SUA POSITIVAÇÃOII – ATOS ILÍCITOS1.CONCEITO2.DUPLO ASPECTO DA ILICITUDE3.ATOS ILÍCITOS EM SENTIDO ESTRITO E AMPLOIII – RESPONSABILIDADE CIVIL1.ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE1.1.RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL1.2.RESPONSABILIDADE CIVIL E RESPONSABILIDADE PENAL1.3.RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA2.IMPUTABILIDADE E RESPONSABILIDADE3.PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA3.1.AÇÃO OU OMISSÃO3.2.CULPA OU DOLO DO AGENTE3.3.RELAÇÃO DE CAUSALIDADE3.4.DANOIV – O ABUSO DO DIREITO COMO ATO ILÍCITOV – ATOS LESIVOS NÃO CONSIDERADOS ILÍCITOS1.A LEGÍTIMA DEFESA2.O EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO RECONHECIDO3.O ESTADO DE NECESSIDADEVI – CONCLUSÃOVII – BIBLIOGRAFIA
I – INTRODUÇÃO
1 – Considerações iniciais
A idéia do ilícito em direito, não tem caracteres absolutos, suscetíveis de predeterminação; é uma concepção que varia com as idéias morais relativas às relações sociais em cada época e em cada país. É uma questão de moral social. De modo que quem acarreta um dano a outro não comete só por isso um delito, se seu ato não é ilícito, se não ofende a um direito de terceiro conforme a moral dominante.
Os atos jurídicos em geral são ações humanas lícitas ou ilícitas.
Lícitos são os atos humanos a que a lei defere os efeitos almejados pelo agente. Praticados em conformidade com o ordenamento jurídico, produzem efeitos jurídicos voluntários, queridos pelo agente.
Os ilícitos, por serem praticados em desacordo com o prescrito no ordenamento jurídico, embora repercutam na esfera do Direito, produzem efeitos jurídicos involuntários, mas impostos por esse ordenamento. Em vez de direitos, criam deveres.
O simples fato de nos proclamarmos titulares de um direito, nos termos objetivos da norma de direito positivo, não dispensa uma vontade honesta; a consciência moral não pode jamais ser posta à margem, visto como há deveres em relação a outro que nenhum direito permite violar.
2 – A disciplina da matéria no novo Código
Feitas estas breves considerações iniciais, propõe efetivamente o presente estudo a enfocar, sob a ótica da recente codificação civilista, a questão do ato ilícito. Busca-se aqui avaliar de forma direta e sem qualquer preocupação de esgotar a matéria, a repercussão da nova disciplina legal nas bases até aqui estabelecidas.
O novo Código Civil, repetindo a orientação do Diploma revogado, estabelece no art. 186 a cláusula geral de responsabilidade civil baseada no ato ilícito, nos seguintes termos: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Percebe-se, desde logo, sutil diferenciação levada a efeito pelo atual legislador, se comparado com o legislador de 1916. Cuida o novo Código, na Parte Geral, da conceituação do ato ilícito, deixando para regular sua principal conseqüência (efeito obrigacional de reparação do dano) na Parte Especial, ao tratar da Responsabilidade Civil. O Código de 1916, a rigor, não conceituava expressamente o ato ilícito, mas, já na Parte Geral, a ele reportava-se para determinar seus efeitos (art.159). Tal nova sistematização, muito embora não tenha o condão de per si alterar profundamente a noção já acentada de ato ilícito, traduz, em seu favor, uma técnica legislativa mais aperfeiçoada.
Também verifica-se que o novo Código se limita a invocar, expressamente, apenas as modalidades culposas da negligência e da imprudência. Alguns defendiam que melhor seria deixar clara a hipótese também de imperícia. Contudo, o Código assim não fez, mas, com efeito, tal omissão não parece trazer maiores problemas. Isto porque os casos de imperícia podem ser agrupados tanto como imprudência como negligência.
3 – A questão da culpa na cláusula geral do art. 186 e a nova cláusula geral do art. 927
No novo Código, o legislador suprimiu na cláusula geral do art. 186 qualquer referência expressa à culpa, ao contrário do que se fazia na 2ª parte do art. 159 do revogado Código de 1916. O que isto poderia significar? Num primeiro instante, em face de tal deliberada omissão, e, ainda por se manter a simples ação ou omissão voluntária como conduta que eventualmente dê ensejo a um ato ilícito – ao lado da negligência ou da imperícia -, alguns poderiam afirmar que o novo art. 186 em regra, excluiria, do ato ilícito, a avaliação da culpa, ressalvadas apenas as hipóteses de coação moral ou física irresistível.
Porém, tal entendimento significaria desmontar todo o arcabouço teórico até aqui construído em torno do ato ilícito. E não há razão nem tampouco vantagens para tanto. A rigor, referida supressão tem a finalidade, sob o prisma sistemático, guardar (e nada mais que isto) estrita coerência com a tendência objetivista trazida pela nova codificação, o que pode ser claramente percebido no novo Título IX (arts. 927 a 954), especificamente reservado à disciplina de responsabilidade civil. Em boa hora, ressalte-se, assim o fez, trazendo ares de contemporaneidade à matéria.
O Código Civil de 1916, sob a inspiração do Código de Napoleão, fundava o seu sistema de responsabilidade quase que exclusivamente no ato ilícito, que tem a culpa latu sensu como elemento central. É interessante mencionar que Justiniano de Serpa, Presidente da Comissão que discutiu no Senado o Código de 1916, afirmava, já naquela oportunidade e na contra-mão do entendimento que se viu depois consolidado, que o ponto de partida daquele Código era o dano, e não a culpa.
De toda forma, a doutrina e a jurisprudência assentaram que, para surgir o dever de indenizar, fazia-se imprescindível que a vítima conseguisse demonstrar a conduta culposa do agente causador do dano.
Ainda no século XIX, vozes levantaram-se contra o rigor desse mecanismo, o jurista francês Raymond Saleilles fez sérias objeções ao subjetivismo contribuindo decisivamente para a mudança de perspectiva; dizia este jurista que em determinados casos, como nos acidentes de trabalho, exigir da vítima prova da culpa equivalia manter impune o provocador do dano.
No Brasil, superada a rigidez do subjetivismo, a questão coloca-se no plano da extensão que deve ser dada à responsabilidade objetiva. Não se deve ceder à tentação de reduzir o problema, por sua aparente simplicidade, a ponto de, em substituição ao critério da culpa, escolher outro critério que, quase às cegas, atribua sempre a alguém o dever de indenizar a vítima. Sem embargo de suas numerosas vantagens, a responsabilidade objetiva não pode ainda pretender, mesmo nos dias atuais, aplicação plena. Ela assim, com efeito, não substitui ou elimina a responsabilidade por ato ilícito. Risco e culpa consistem, hoje, em duas fontes de responsabilidade, que, embora distintas, convivem em harmonia. É necessário, então, estabelecer a causa da responsabilidade, que deve estar num fundamento ético cuja apuração dar-se-á de forma direta ou indireta. Tema que abordaremos, oportunamente, no decorrer deste trabalho.
4 – Atos ilícitos – sua positivação
O capítulo referente aos atos ilícitos, no Código Civil, contém apenas três artigos, o 186, o 187 e o 188.
Da interpretação dos artigos 186, 187 e 188 do CC, além do conceito de ato ilícito, decorre a responsabilidade civil, o abuso do direito e as excludentes de ilicitude. No que tange à responsabilidade civil, o novo Código faz uma correlação mais harmônica entre a disciplina dos atos ilícitos e a parte do Direito das Obrigações como bem nos informa a Mensagem n°160, de 10 de junho de 1975.No entanto, a verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelos artigos 927 a 943 (“Da Obrigação de Indenizar”) e 944 a 954 (“Da Indenização”).
II – ATOS ILÍCITOS
1 – Conceito
O conceito de ato ilícito é da maior relevância, por ser o fato gerador da responsabilidade civil.
Trata-se de uma conquista do direito moderno, devida à obra monumental dos pandectístas alemães do século XIX que criaram a parte geral do Direito Civil e, por conseguinte deram-nos os fundamentos científicos de toda a teoria da responsabilidade hoje estudada. O Código Civil Alemão – BGB 1897 – foi o primeiro a abandonar a tradicional classificação romana de delito e quase-delito e, no lugar dessa dicotomia, erigiu um conceito único – O CONCEITO DE ATO ILÍCITO.Mas, o que se entende por ato ilícito? Inclui-se no seu conceito o elemento culpa?
Todos os autores reconhecem tratar-se de um conceito complexo e controvertido. Assinala Caio Mário que a construção dogmática do ato ilícito sofreu tormentas nas mãos dos escritores dos séculos XVIII e XIX e não melhorou muito nas dos contemporâneos nossos; antes tem sido de tal modo intrincada que levou De Page a taxar de completa anarquia o que se passa no terreno da responsabilidade civil, tanto sob o aspecto legislativo quanto doutrinário, como, ainda, jurisprudencial. No entender do insigne mestre, a doutrina não poderá aclarar devidamente a teoria do ato ilícito enquanto se preocupar com a diversificação das noções de dolo e culpa, culpa grava, leve e levíssima, e outras diferenciações sem utilidade prática. Embora sustente que o caráter antijurídico da conduta e o seu resultado danoso constituem o perfil do ato ilícito – violação de uma obrigação preexistente -, reconhece o notável civilista que a noção de culpa está presente na contraposição do esquema legal do ato ilícito. Adverte, entretanto, que a palavra “culpa” traz aqui um sentido amplo, abrangente de toda espécie de comportamento contrário ao direito, seja intencional ou não, porém imputável por qualquer razão ao causador do dano.
Por sua vez, Antunes Varela faz perfeita colocação desta questão, ao dizer “O elemento básico da responsabilidade é o fato do agente – um fato dominável ou controlável pela vontade, um comportamento ou uma forma de conduta humana – pois só quanto a fatos dessa índole têm cabimento a idéia da ilicitude, o requisito da culpa e a obrigação de reparar o dano nos termos em que a lei impõe”.
Todas as definições dadas ao ato ilícito, sobretudo entre os clássicos, seguem essa mesma linha – íntima ligação entre o seu conceito e o de culpa. Tal critério, entretanto, cria enorme dificuldade em sede de responsabilidade objetiva, na qual não se cogita de culpa.
Com efeito, se a culpa é elemento integrante do ato ilícito, então, onde não houver culpa também não haverá ilícito. Nesse caso, qual seria o fato gerador da responsabilidade objetiva? Em face dessa dificuldade, Colin e Capitant, citados por Alvino Lima, afirmam configurar uma tautologia dizer ser a culpa um ato ilícito. Há também os que sustentam que a obrigação de reparar sem culpa não é caso de responsabilidade, e sim de uma simples garantia – o que, data venia, se nos afigura navegar de costas para o futuro, remando contra a maré. Estando universalmente reconhecida e consagrada a responsabilidade objetiva, cujos domínios cada vez mais se expandem, não há mais espaço para se contestar a existência de responsabilidade nos casos de indenização sem culpa.
Orlando Gomes, o insígne mestre baiano, por sua vez, entende que quando a responsabilidade é determinada sem culpa o ato não pode, a rigor, ser considerado ilícito . Nessa linha de entendimento, outros autores sustentam que, em última análise, a diferença essencial entre os sistemas da responsabilidade subjetiva e objetiva reside na ilicitude ou licitude da conduta do agente. A responsabilidade subjetiva sempre estaria relacionada a um ilícito, ao passo que a responsabilidade objetiva estaria ligada a um comportamento lícito.
Tal como o anterior, este entendimento está também na contramão da História. Não há que se falar em ato lícito se em todos os casos de responsabilidade objetiva – do transportador, do Estado, do fornecedor etc. – há sempre a violação de um dever jurídico preexistente, o que configura a ilicitude. Ora será o dever de incolumidade, ora o dever de segurança – mas, como veremos, haverá sempre o descumprimento de uma obrigação originária. Ademais, os casos de indenização por ato lícito são excepcionalíssimos, só tendo lugar nas hipóteses expressamente previstas em lei, como no caso de dano causado em estado de necessidade e outras situações específicas ( Código Civil, arts. 188, II, c/c arts. 929 e 930, 1.285, 1.289, 1.293, 1.385, § 3º etc.). Nesses e outros casos não há responsabilidade em sentido técnico por inexistir violação de dever jurídico, mas mera obrigação legal de indenizar por ato lícito.
2- Duplo aspecto da ilicitude
Entendemos que a solução adequada para a questão pode ser encontrada no duplo aspecto da ilicitude. No seu aspecto objetivo, leva-se em conta para a configuração da ilicitude apenas a conduta ou fato em si mesmo, sua materialidade ou exterioridade, e verifica-se a desconformidade dela com a que o Direito queria. A conduta contrária à norma jurídica, só por si, merece a classificação de ilícita ainda que não tenha origem numa vontade consciente e livre. Este, aliás, é um ponto em que não há divergência. Todos estão de acordo em que o cerne da ilicitude consiste, precisamente, em ser o fato – evento ou conduta – contrário ao Direito, no sentido de que nega os valores e os fins da ordem jurídica. E assim é porque o legislador, ao impor determinada conduta, o faz porque, em momento prévio, valorou positivamente o fim que essa conduta visa a atingir.
Com efeito, a antijuridicidade de uma conduta é normalmente estabelecida à luz de certos valores sociais, valores que podem ser englobados na noção tradicional do bem comum. O que se pretende é proteger o interesse ou a utilidade social. Desta forma, sempre que se desenvolve um comportamento contrário à norma jurídica, fere-se esse valor, ainda que tam comportamento não decorra de ato humano voluntário. Aqui leva-se em consideração apenas se certa conduta – ou o resultado desta – é socialmente vantajosa ou nociva. Por este enfoque, a fronteira da ilicitude é marcada pela violação do dever jurídico. Assevera San Tiago Dantas: “O ilícito é a transgressão de um dever jurídico. Não há definição mais satisfatória para o ilícito civil”. A contrariedade a direito é condição objetiva que se configura por ter sido violada a ordem jurídica.
No seu aspecto subjetivo, a qualificação de uma conduta como ilícita implica fazer um juízo de valor a seu respeito – o que só é possível se tal conduta resultar de ato humano consciente e livre. Por esse enfoque subjetivista, a ilicitude só atinge sua plenitude quando a conduta contrária ao valor que a norma visa atingir (ilicitude objetiva) decorre da vontade do agente; ou, em outras palavras, quando o comportamento objetivamente ilícito for também culposo. Essa é a lição de orlando Gomes: “Mas a antijuridicidade objetiva distingue-se nitidamente da antijuridicidade subjetiva. Para que esta se configure, é necessário que o ato seja imputável ao agente, isto é, a quem tenha procedido culposamente. Na antijuridicidade objetiva, a reação da ordem jurídica não leva em conta o comportamento do agente. Ademais, pode ser provocada por um fato stricto sensu, enquanto a antijuridicidade subjetiva sempre é conseqüência de ato voluntário”.
Em suma, a violação de um dever jurídico possibilita formular, a seu respeito, dois juízos de valor: o juízo de valor sobre o caráter anti-social ou socialmente nocivo do ato ou do seu resultado e o juízo sobre a conduta do agente, na sua dimensão ético-jurídica; um juízo de valor sobre o ato e um juízo de valor sobre seu agente.
3- Ato ilícito em sentido estrito e amplo
Esse duplo aspecto da ilicitude nos permite falar do ato ilícito também com duplo sentido.
Em sentido estrito, o ato ilícito é o conjunto de pressupostos da responsabilidade – ou, se preferirmos, da obrigação de indenizar. Na verdade, a responsabilidade civil é um fenômeno complexo, oriundo de requisitos diversos intimamente unidos; surge e se caracteriza uma vez que seus elementos se integram. Na responsabilidade subjetiva, como veremos, serão necessários, além da conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo causal. Esse é o sentido do artigo 186 do Código Civil. A culpa está ali inserida como um dos pressupostos da responsabilidade subjetiva. A culpa é, efetivamente o fundamento básico da responsabilidade subjetiva, elemento nuclear do ato ilícito que lhe dá causa. Já na responsabilidade objetiva a culpa não integra os pressupostos necessários para a sua configuração. Em sentido amplo, o ato ilícito indica apenas a ilicitude do ato, a conduta humana antijurídica contrária ao Direito, sem qualquer referência ao elemento subjetivo ou psicológico. Tal como o ato lícito é também uma manifestação de vontade, uma conduta humana voluntária, só que contrária à ordem jurídica.
Não é demais lembrar que o conceito de ato ilícito, tal como concebido pelos clássicos, tornou-se insuficiente até mesmo para a configuração da responsabilidade subjetiva. Fixado o conceito da culpa como erro de conduta – observa Alvino Lima -, aferido pelo proceder do homem prudente e imputável moralmente, verificamos que as necessidades sociais arrastaram os doutrinadores e as jurisprudências dos tribunais a uma concepção mais ampla da culpa, dentro da qual se enfeixassem todos os fatos da vida real causadores de danos, cuja reparação se impunha com justiça, e que escapavam à noção restrita e acanhada da culpa como omissão de dirigência imputável moralmente .Conclui-se do exposto que o conceito estrito de ato ilícito, tendo a culpa como um dos seus elementos, tornou-se insatisfatório até mesmo na responsabilidade subjetiva. Em sede de responsabilidade civil objetiva, cujo campo de incidência é hoje vastíssimo, só tem guarida o ato ilícito latu sensu, assim entendido como a mera contrariedade entre a conduta e a ordem jurídica, decorrente de violação de dever jurídico preexistente.Temos como certo que o novo Código Civil assumiu em relação ao ato ilícito esta postura dicotômica, tanto é assim que, além da responsabilidade subjetiva fulcrada no ato ilícito stricto sensu, prevista no artigo 927, lembra o parágrafo único deste mesmo artigo que há de haver outras situações igualmente geradoras da obrigação de indenizar independentemente de culpa. Devemos ainda ressaltar que o Código, após conceituar o ato ilícito em sentido estrito em seu artigo 186, formulou outro conceito de ato ilícito, mais abrangente, no seu artigo 187, no qual a culpa não figura como elemento integrante, mas sim os limites impostos pela boa-fé, bons costumes e o fim econômico ou social do Direito. O abuso de direito foi aqui configurado como ato ilícito dentro de uma visão objetiva, pois boa-fé, bons costumes, fim econômico ou social nada mais são que valores ético-sociais consagrados pela norma em defesa do bem comum, que nada tem a ver com a culpa. Portanto, diferentemente do Código Civil de 1916, que consagrou na cláusula geral do seu artigo 159 apenas a responsabilidade subjetiva (a responsabilidade objetiva era admitida casuisticamente apenas em alguns artigos para casos específicos), o novo Código contém cláusulas gerais tanto para a responsabilidade subjetiva como para a objetiva, cada qual abrangendo determinadas áreas da atividade humana. A responsabilidade subjetiva continua fulcrada no ato ilícito stricto sensu (artigo 186), com aplicação nas relações interindividuais – violação de um dever jurídico -, e o ato ilícito em sentido amplo é o fato gerador da responsabilidade objetiva e tem por campo de incidência as relações entre o indivíduo e o grupo (Estado, empresas, fornecedores de serviços, produtos etc).Convém observar, todavia, que, enquanto os atos jurídicos podem se restringir a meras declarações de vontade, como, por exemplo, prometer fazer ou contratar etc. o ato ilícito é sempre uma conduta voluntária. Se for ato, nunca o ato ilícito consistirá numa simples declaração de vontade. Importa dizer que ninguém pratica ato ilícito simplesmente porque promete a outrem causar-lhe um prejuízo.
Em se tratando de responsabilidade subjetiva a culpa integrará esses pressupostos, mas no caso de responsabilidade objetiva bastará a ilicitude em sentido amplo, a violação de um dever jurídico preexistente por conduta voluntária. É de se registrar que o ato ilícito se divide em civil e penal, sem se falar no ilícito administrativo, por sua total impertinência com o escopo deste trabalho.
Ainda no que concerne à responsabilidade, procuremos situá-la na teoria geral do Direito onde verifica-se ter seu campo de incidência, ressalvadas eventuais exceções, o ato ilícito civil ou penal. Seu elemento nuclear é o descumprimento de um dever jurídico por uma conduta voluntária do agente, ensejando para este, quando acarreta dano para outrem, o dever de responder pelas conseqüências jurídicas daí decorrentes. De onde se conclui que não basta, para ensejar o dever de indenizar, a prática de um ato prejudicial aos interesses de outrem; é indispensável a ilicitude – violação de dever jurídico preexistente. Se alguém, por exemplo, instala o seu comércio perto de outro do mesmo ramo, poderá causar prejuízo ao dono deste último diminuindo-lhe o movimento e os lucros, mas nada terá que lhe indenizar, por não ter violado nenhum dever jurídico. A ilicitude só surgirá – e, conseqüentemente, o dever de indenizar – se vier a praticar concorrência desleal. O mesmo se diga em relação ao patrão que despede o empregado nos casos permitidos em lei. Este último, por ficar privado do salário, sofrerá um dano patrimonial, mas o empregador não será obrigado a indenizá-lo. A ilicitude reporta-se à conduta do agente, e não ao dano que dela provenha, que é o seu efeito. Sendo lícita a conduta, em princípio não haverá o que indenizar, ainda que danosa a outrem. Há, é verdade, casos de responsabilidade por atos lícitos, mas são excepcionalíssimos, como anteriormente já citamos, que só confirmam a regra.E como a principal conseqüência da prática do ato ilícito é a obrigação de indenizar – obrigação, esta, de natureza pessoal – pode-se adiantar que a responsabilidade civil é parte integrante do Direito Obrigacional. Por isso se diz que o ato ilícito é uma das fontes da obrigação, ao lado da lei, do contrato e da declaração unilateral de vontade. Atentando, todavia, para a distinção existente entre obrigação e responsabilidade, seria mais correto dizer que o ato lícito é fonte das obrigações (dever originário), enquanto o ato ilícito é fonte da responsabilidade (obrigação sucessiva, conseqüente ao descumprimento da obrigação originária).
III – RESPONSABILIDADE CIVIL
O anseio de obrigar o agente, causador do dano, a repará-lo inspira-se no mais elementar sentimento de justiça. O dano causado pelo ato ilícito rompe o equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente entre o agente e a vítima. Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, o que se procura fazer recolocando o prejudicado no statu quo ante. Impera nesse campo o princípio da restitutio integrum, isto é, tanto quanto possível, repõe-se a vítima à situação anterior à lesão. Isso se faz através de uma indenização fixada em proporção ao dano. Indenizar pela metade é responsabilizar a vítima pelo resto, como afirma Daniel Pizarro, in Daños, 1991. Limitar a reparação é impor à vítima que suporte o resto dos prejuízos não indenizados.
Observa Antonio Montenegro que a teoria da indenização de danos só começou a ter uma colocação em bases racionais quando os juristas constataram, após quase um século de estéreis discussões em torno da culpa, que o verdadeiro fundamento da responsabilidade civil devia-se buscar na quebra do equilíbrio econômico-jurídico provocada pelo dano. A partir daí, conclui a tese de Ihering de que a obrigação de reparar nascia da culpa, e não do dano, foi-se desmoronando paulatinamente .
1 – Espécies de Responsabilidade
Se, como atrás ficou dito, a responsabilidade tem por elemento nuclear uma conduta voluntária violadora de um dever jurídico, torna-se, então, possível dividi-la em diferentes espécies, dependendo de onde provém esse dever e qual elemento subjetivo dessa conduta.
1.1 – Responsabilidade contratual e extracontratual
Uma pessoa pode causar prejuízo a outrem por descumprir uma obrigação contratual (dever contratual). Por exemplo: o ator que não comparece para dar o espetáculo contratado; o comodatário que não devolve a coisa que lhe foi emprestada porque, por sua culpa, ela pereceu. O inadimplemento contratual acarreta a responsabilidade de indenizar as perdas e danos, nos termos do artigo 389 do Código Civil. Quando a responsabilidade não deriva de contrato, mas de infração ao dever de conduta (dever legal) imposto genericamente no artigo 927 do mesmo diploma, diz-se que ela é extracontratual ou aquiliana. Embora a conseqüência da infração ao dever legal e ao dever contratual seja a mesma (obrigação de ressarcir ao prejuízo causado), o Código Civil brasileiro distinguiu as duas espécies de responsabilidade acolhendo a teoria dualista e afastando a unitária, disciplinando a extracontratual nos artigos 186 e 187, sob o título “Dos Atos Ilícitos”, complementando a regulamentação nos artigos 927 e seguintes e a contratual, como conseqüência da inexecução das obrigações, nos artigos 389, 395 e seguintes, omitindo qualquer referência diferenciadora. No entanto, algumas diferenças podem ser apontadas:
a) na responsabilidade contratual, o inadimplemento presume-se culposo. O credor lesão encontra-se em posição mais favorável, pois só está obrigado a demonstrar que a prestação foi descumprida, sendo presumida a culpa do inadimplente, caso do passageiro de um ônibus que fica ferido em colisão deste com outro veículo, por ser contratual (contrato de adesão) a responsabilidade do transportador, que assume, ao vender a passagem, a obrigação de transportar o passageiro são e salvo (cláusula de incolumidade), a seu destino;
b) na extracontratual, ao lesado incumbe o ônus de provar culpa ou dolo do causador do dano (caso do pedestre que é atropelado pelo ônibus e que tem o ônus de provar a imprudência do condutor);
c) a contratual tem origem na convenção, enquanto a extracontratual atém na inobservância do dever genérico de não lesar a outrem (neminem laedere);
d) a capacidade sofre limitações no terreno da responsabilidade contratual, sendo mais ampla no campo da extracontratual.
1.2 – Responsabilidade Civil e Responsabilidade Penal
Se, ao causar dano, o agente transgride também, a lei penal, ele torna-se, ao mesmo tempo, obrigado civil e penalmente. A ilicitude é chamada de civil ou penal tendo em vista exclusivamente a norma jurídica que impõe o dever violado pelo agente. Na responsabilidade penal, o agente infringe uma norma penal, de direito público. O interesse lesado é o da sociedade. Na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o privado. O prejudicado poderá pleitear ou não a reparação.
A responsabilidade penal é pessoal, intransferível. Responde o réu com a privação de sua liberdade. A responsabilidade civil é patrimonial: é o patrimônio do devedor que responde por suas obrigações. Ninguém pode ser preso por dívida civil, exceto o depositário infiel e o devedor de pensão oriunda do direito de família.
A responsabilidade penal é pessoal também em outro sentido: a pena não pode ultrapassar a pessoa do delinqüente. No cível, há várias hipóteses de responsabilidade por ato de outrem (art. 932 do CC, p. ex.). A tipicidade é um dos requisitos genéricos do crime. No cível, no entanto, qualquer ação ou omissão pode gerar a responsabilidade, desde que viole direito e cause dano a outrem (CC, arts. 186 e 927). A culpabilidade é bem mais ampla na área cível (a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar). Na esfera criminal exige-se, para a condenação, que a culpa tenha certo grau ou intensidade. Na verdade, a diferença é apenas de grau ou de critério de aplicação, porque substancialmente, a culpa civil e a culpa penal são iguais, pois têm os mesmos elementos. A imputabilidade também é tratada de modo diverso. Somente os maiores de dezoito anos são responsáveis criminalmente. No cível, o menor de dezoito anos responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, e se a indenização, que deverá ser eqüitativa, não o privar do necessário ao seu sustento, ou ao das pessoas que dele dependem (CC, art. 928, caput, e parágrafo único).
1.3 – Responsabilidade Subjetiva e Responsabilidade ObjetivaA teoria clássica, também chamada de teoria da culpa ou subjetiva, pressupõe a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Em não havendo culpa, não há responsabilidade. Diz-se, pois, ser subjetiva a responsabilidade quando se esteia na idéia de culpa. A prova da culpa (em sentido lato, abrangendo o dolo ou a culpa em sentido estrito) passa a ser pressuposto do dano indenizável.
A lei impõe, a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou objetiva, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Essa teoria dita objetiva ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, independentemente de culpa. Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns casos, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível (responsabilidade independentemente de culpa).
Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa prová-la ou a omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida (objetiva imprópria). É o caso do art. 936 do Código Civil, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem, mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Há casos em que se prescinde totalmente da culpa. São hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano.
Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco. Para essa teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a idéia de risco, é encarada como “risco-proveito”, que se funda no princípio de que é reparável o dano causado a outrem em conseqüência de uma atividade realizada em benefício do responsável (ubi emolumentum, ibi ônus, isto é, quem aufere os cômodos (lucros) deve suportar os incômodos, os riscos); ora, mais genericamente como “risco criado”, a que se subordina todo aquele que, sem indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo, em razão de uma atividade perigosa; ora, ainda, como “risco profissional”, decorrente da atividade ou profissão do lesado, como ocorre nos acidentes de trabalho.
O Código Civil brasileiro filiou-se à teoria subjetiva. É o que se pode verificar no art. 186, que erigiu o dolo e a culpa como fundamentos para a obrigação de reparar o dano. A responsabilidade subjetiva subsiste como regra necessária, sem prejuízo da adoção da responsabilidade objetiva imprópria, em dispositivos vários e esparsos (arts. 936, 937 e 938 – que tratam, respectivamente, da responsabilidade do dono do animal, do dono do prédio em ruína e do habitante da casa da qual caírem coisas -, além de outros, como os arts. 929, 930, 939 e 940), e da responsabilidade objetiva independentemente de culpa, no parágrafo único do art. 927, “nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Os casos “especificados em lei” são os previstos no próprio Código Civil (art. 933, p. ex.) e em leis esparsas, como a Lei de Acidentes do Trabalho, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei n. 6.453/77 (que estabelece a responsabilidade do operador de instalação nuclear), o Decreto-Lei n. 2.681, de 1912 (que regula a responsabilidade civil das estradas de ferro), a Lei n. 6.938/81 (que trata dos danos causados ao meio ambiente) e outras. E quando a estrutura ou natureza de um negócio jurídico – como o de transporte, ou de trabalho, por exemplo – implica a existência de riscos inerentes à atividade desenvolvida, impõe a responsabilidade objetiva de quem dela tira proveito, haja ou não culpa.
Isso significa que a responsabilidade objetiva não substitui a subjetiva, mas fica circunscrita aos seus justos limites. Na realidade, as duas formas de responsabilidade se conjugam e dinamizam. Sendo a teoria subjetiva insuficiente para atender às imposições do progresso, cumpre o legislador fixar especialmente os casos em que deverá ocorrer a obrigação de reparar, independentemente daquela noção.
2 – Imputabilidade e Responsabilidade
O art. 186 do CC pressupõe o elemento imputabilidade, ou seja, a existência, no agente, da livre determinação de vontade. Para que alguém pratique um ato ilícito e seja obrigado a reparar o dano causado, é necessário que tenha capacidade de discernimento. Aquele que não pode querer e entender, não incorre em culpa e, por isso, não pratica ato ilícito.
Para responsabilização pelo ato ilícito, necessário se faz determinar a imputabilidade do agente. No que diz respeito aos agentes incapazes, não pode haver – como não há – qualquer dúvida. Entretanto, no que concerne aos considerados legalmente incapazes, a questão é sempre delicada. Pelo que dispõe o art. 156 do CC de 1916, muito se discutiu a respeito dessa questão, especialmente no período anterior à vigência do atual Código Penal. Antonio Ferreira Coelho, mencionando Spencer Vampré, afirmava, na vigência daquele diploma civil que, não se deveria indagar acerca do discernimento do agente, pelo que qualquer um responderia, independentemente da capacidade, pela reparação dos danos derivados de atos ilícitos.
Por sua vez, o novo Código não traz dispositivo com redação semelhante ao art. 156 acima referido, o que, numa primeira leitura, poderia indicar que o menor responderia indistintamente pelo ato ilícito, sem que se cogitasse de sua capacidade, solução que traduziria verdadeiro absurdo. Porém, como se verá, a questão deve ser colocada em outros termos e, para tanto, cumpre sistematicamente invocar as regras da Parte Especial, em especial o disposto no art. 928; sem esquecer, obviamente do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Para proteger os incapazes, o ordenamento os afasta da atividade jurídica, cerceando sua capacidade e indicando, para suprir tal deficiência, determinadas pessoas que passam a ser por elas responsáveis. Com isto, se a conduta do incapaz resulta num ato ilícito ou, de qualquer outra forma produz um dano injusto, responderá pela reparação, em regra, não seu próprio patrimônio, mas o patrimônio daquele que a lei aponta como seu responsável – veja-se interessante hipótese de responsabilidade objetiva no art. 933 do novo Código -.
Excepcionalmente, pais, tutores e curadores podem não responder pelo dano causado à vítima, seja por uma razão de ordem legal (como ocorre com o pai que se encontra desprovido da guarda e da companhia do filho menor), seja por uma razão de ordem econômica (quando o patrimônio do responsável é insuficiente para arcar com a indenização). Para estes casos, longe de serem meramente acadêmicos, o revogado Código de 1916, curiosamente não trazia qualquer solução: a vítima permaneceria sem indenização, ainda que o incapaz possuísse um patrimônio significativo; boa parte da doutrina, atenta a esta injustiça, lançava severas críticas.
O novo Código Civil – e aí sim está a inovação – corrigindo esta esdrúxula situação, criou no art. 928 duas exceções ao princípio de responsabilidade dos incapazes:
a) caso os responsáveis não tenham a obrigação de indenizar – neste caso, o patrimônio do incapaz responde diretamente pelos prejuízos.
b) caso os responsáveis não disponham de meio suficiente para arcar com a indenização – O patrimônio do incapaz é atingido apenas subsidiariamente, de forma a complementar o que faltar para o integral valor da indenização. Preferiu-se prestigiar o direito da vítima, nem que pra isso atinja o patrimônio do incapaz.Temperando esta nova perspectiva legal com a idéia de proteção mínima do incapaz, o novo Código, no parágrafo único do art. 928, estabelece que a indenização seja eqüitativa e que não prive o incapaz dos meios necessários à sua sobrevivência. Esta regra funda-se, na verdade, em princípio geral da responsabilidade civil contemporânea, consoante com os fundamentos constitucionais da República, com destaque para o princípio da dignidade humana. Por ele, não se impõe apenas a proteção aos diversos atributos inerentes à pessoa, mas exige-se, além disso, a garantia mínima de que cada indivíduo tenha os meios necessários para o desenvolvimento da sua personalidade e para a manutenção de uma vida digna. Cumpre identificar e proteger, assim, independentemente de previsão normativa específica, um patrimônio mínimo do indivíduo, imune e superior aos interesses de qualquer credor.
3 – Pressupostos da responsabilidade subjetiva
Da análise do art. 186 do CC, que disciplina a responsabilidade subjetiva, também chamada de extracontratual, fica evidente que são quatro os seus elementos essenciais: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.
3.1 – Ação ou Omissão
A lei refere-se a qualquer pessoa que, por ação ou omissão venha causar dano a outrem. A responsabilidade pode derivar de ato próprio, conforme arts 939, 940, 953 etc do CC; de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente (art. 932) e ainda, de danos causados por coisas (art. 937) e animais (art. 936) que lhe pertençam. No caso de animais, a culpa do dono é presumida – responsabilidade objetiva imprópria. Para que se configure a responsabilidade por omissão é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado fato (de não o omitir) e que se demonstre que, com a sua prática, o dano poderia ter sido evitado. O dever jurídico de não se omitir pode ser imposto por lei (dever de prestar socorro às vítimas de acidentes, imposto a todo condutor de veículos) ou resultar de convenção (dever de guarda, de vigilância, de custódia) e até da criação de alguma situação especial de perigo.
3.2 – Culpa ou dolo do agente
Com relação à ação ou omissão voluntária, o art. 186 do CC cogita o do dolo. Para em seguida, referir-se à culpa em sentido estrito, ao mencionar “a negligência ou imprudência”. Dolo é a violação deliberada, intencional, do dever jurídico. A culpa consiste na falta de diligência que se exige do homem médio. Para que a vítima obtenha reparação do dano, exige o mencionado dispositivo legal que prove dolo ou culpa stricto sensu (aquiliana) do agente (imprudência, negligência ou imperícia) por ter sido adotada, entre nós a teoria subjetiva. Como essa prova muitas vezes se torna difícil de ser conseguida, o CC algumas vezes presume a culpa, como o faz no art. 936. E, no parágrafo único do art. 927 dispõe que haverá obrigação de reparar o dano, “independentemente de culpa, nos casos especificados em lei” (leis especiais admitem, em hipóteses específicas, casos de responsabilidade independentemente de culpa fundada no risco) “ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Do que se conclui que a responsabilidade subjetiva subsiste como regra necessária, sem prejuízo da adoção da responsabilidade objetiva, nos casos especificados em lei ou de exercício de atividade perigosa.
Com base na extensão da culpa, a teoria subjetiva faz distinções. Culpa lata ou grave: imprópria ao comum dos homens é a modalidade que mais se avizinha do dolo; culpa leve: falta evitável com atenção ordinária; culpa levíssima: falta só evitável com atenção extraordinária ou com especial habilidade. A culpa grave ao dolo se equipara (culpa lata dolus equiparatu). Assim, se em determinado dispositivo legal constar a responsabilidade do agente por dolo, deve-se entender que também responde por culpa grave (CC, art. 392). No cível, a culpa mesmo levíssima obriga a indenizar (in lege aquilia levíssima culpa venit). Em geral, não se mede o dano pelo grau de culpa. O montante do dano é apurado com base no prejuízo comprovado pela vítima. Todo dano provado deve ser indenizado, qualquer que seja o grau de culpa. Reza o art. 944 do CC que, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Aduz o parágrafo único que, no entanto, se houver “excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”. Em algumas poucas leis especiais, como na Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67), o grau de culpa pode ter influência no arbitramento do dano.
3.3 – Relação de causalidade
É o nexo causal entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. É expressa no verbo “causar”, consoante o art. 186. Sem ela não existe a obrigação de indenizar. Se houve dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade e, por via de conseqüência, a obrigação de indenizar. As excludentes da responsabilidade civil, como a culpa da vítima e o caso fortuito e a força maior (CC, art. 393), rompem o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade do agente. Assim, se a vítima, querendo suicidar-se, atira-se sob as rodas do veículo, não se pode afirmar ter o motorista “causado” o acidente, pois na verdade foi mero instrumento da vontade da vítima, esta sim, responsável exclusiva pelo evento.
3.4 – Dano
A prova do dano é exigência essencial para alguém ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser patrimonial (material) ou extrapatrimonial (moral), ou seja, sem repercussão na órbita financeira do lesado. O CC consigna um capítulo sobre a liquidação do dano, isto é, sobre o modo de se apurarem os prejuízos e a indenização cabível (arts 944 a 954), com o título “Da Indenização”. Mesmo que haja violação de um dever jurídico, existindo culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida uma vez que não se tenha verificado prejuízo. A ausência de dano torna sem objeto a pretensão à sua reparação. Às vezes a lei presume o dano, como acontece na Lei de Imprensa, que pressupõe a existência de dano moral em casos de calúnia, difamação e injúria praticadas pela imprensa. Acontece o mesmo em ofensas aos direitos da personalidade.
É de lembrar que, como exceção ao princípio de que nenhuma indenização será devida se não tiver ocorrido o prejuízo, a regra do art. 940 do CC, que obriga a pagar em dobro ao devedor quem demanda dívida já paga, como uma espécie de pena privada pelo comportamento ilícito do credor mesmo sem prova de prejuízo. E, na responsabilidade contratual, pode ser lembrado o art. 416 do CC, que permite ao credor cobrar a cláusula penal sem precisar provar prejuízo.
IV – O ABUSO DO DIREITO COMO ATO ILÍCITO
O instituto do abuso do direito é construção doutrinária e jurisprudencial do século XX, embora sua origem seja comumente identificada nos atos de emulação do direito medieval, sendo também encontrados vestígios na teoria do direito romano. A história registra que somente em 1912, com o caso Clement Bayard, julgado pela Corte de Amiens, a teoria do abuso do direito tornou-se amplamente conhecida. Consta que o proprietário de um terreno vizinho a um campo de pouso de dirigíveis construiu, sem qualquer justificativa, enormes torres no vértice das quais instalou lanças de ferro, colocando em perigo as aeronaves que ali aterrizavam. A decisão considerou abusiva a conduta, responsabilizando o proprietário . No entanto, foi no Direito das Coisas que primeiro se cogitou de impor limites ao exercício de direitos, além daqueles estabelecidos na própria lei, criando “entre o permitido e o proibido”, uma nova categoria de atos jurídicos.
A formulação do conceito, assim como a indagação sobre a existência do abuso como conceito jurídico autônomo, fizeram surgir diversas teorias, as quais procuraram justificar ou negar o ato abusivo, identificando-o ou distinguindo-o do ato ilícito. As teorias negativistas buscaram demonstrar sua inexistência, seja como conseqüência lógica da própria negação do conceito de direito subjetivo (Duguit); seja situando-o fora do campo jurídico, definido apenas como conceito metafísico (Rotondi); como também por entender que os direitos subjetivos não admitem limitação que não seja imposta pelo ordenamento (Planiol).
A crítica à concepção desta última teoria, expressa na conhecida máxima de Marcel Planiol, segundo a qual “o direito cessa onde começa o abuso”, conduziu as primeiras correntes afirmativas a uma interpretação no sentido da absorção do ato abusivo pelo ato ilícito.
Entre os afirmativistas, há autores que entenderam o abuso do direito apenas como princípio geral de interpretação das normas jurídicas, ou seja, como instrumento a permitir a adaptação do direito positivo à realidade social. Embora não tenha solucionado o problema da identificação do ato abusivo, tornando ainda mais imprecisos seus contornos, esta teoria contribuiu para a formulação do conceito, introduzindo a idéia de que as normas que atribuem direitos devem ser interpretadas de acordo com sua letra, mas também de acordo com seu espírito, isto é, segundo um conteúdo valorativo.
Percorrido um longo caminho, os doutrinadores passaram a buscar a construção científica do abuso do direito no cerne do direito subjetivo, procurando identificá-lo como resultado de uma contradição com um dos elementos valorativos do próprio direito. Neste ponto, destaca-se a obra de Josserand, que concebeu o abuso como violação ao espírito do direito ou ao seu fim social.
Finalmente, a doutrina evoluiu para a concepção do ato abusivo como aquele pelo qual o sujeito excede os limites ao exercício do direito, sendo estes fixados por seu fundamento axiológico, ou seja, o abuso surge no interior do próprio direito, sempre que ocorra uma desconformidade com o sentido teleológico em que se funda o direito subjetivo. O fim – social ou econômico – de um certo direito subjetivo não é estranho à sua estrutura, mas elemento de sua própria natureza.
A teoria do abuso do direito passa assim, a rever o próprio conceito de direito subjetivo, relativizando-o
A caracterização do ato abusivo depende do estabelecimento de limites ao exercício do direito subjetivo, além dos quais o titular ingressa no plano da antijuridicidade, sujeitando-se às sanções correspondentes. Importa, portanto, no reconhecimento de sua relatividade e significa uma valoração da conduta segundo determinados critérios.
Duas teorias definem o abuso do direito. A mais tradicional, a subjetiva, vê abuso do direito quando o ato, embora amparado pela lei for praticado deliberadamente com o interesse de prejudicar alguém. Para a teoria objetiva, o abuso do direito estará no uso anormal ou antifuncional do direito. Caracteriza-se pela existência de conflito entre a finalidade própria do direito e a sua atuação no caso concreto.
O art. 927 do CC refere-se também ao abuso do direito como fato gerador da obrigação de indenizar. Na linha dos mais modernos códigos civis, o brasileiro conceituou o abuso do direito como ato ilícito no seu art. 187, que diz: “Também comete Ato Ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Da redação desse artigo depreende-se, em primeiro lugar, que a concepção adotada em relação ao abuso do direito é a objetiva, pois não é necessária a consciência de se excederem, com o seu exercício, os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico do direito; basta que se excedam esses limites. Filiou-se o nosso Código à doutrina de Saleilles, a quem coube definir o abuso do direito como exercício anormal do direito, contrário à destinação econômica ou social do direito subjetivo, que, reprovado pela consciência pública ou social, excede, por conseqüência, o conteúdo do direito.
Destacamos neste sentido o Enunciado n.37 da Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal (Brasília, setembro de 2002): “a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa, e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”.
Ainda analisando o art. 187 do CC, uma segunda conclusão se impõe que é a de estar definitivamente afastado o entendimento doutrinário, embora minoritário, de que o abuso do direito não configura ato ilícito. A lei diz que o é, embora com características próprias e conteúdo especial. Não se trata aqui, de ofensa frontal de um direito de outrem, nem da violação de uma norma tuteladora de um interesse alheio, como ocorre normalmente com todo e qualquer ato ilícito; mas do exercício anormal do direito próprio. Enquanto no primeiro (ato ilícito) a conduta não encontra apoio em dispositivo legal e até é praticada contra dever jurídico preexistente, no segundo (abuso do direito) a conduta é respaldada em lei, mas, como já ressaltado, fere ostensivamente o seu espírito. O titular do direito, “embora observando a estrutura formal do poder que a lei lhe confere, excede os limites que lhe cumpre observar, em função dos interesses que legitimam a concessão desse poder. Há uma “contradição entre o modo ou o fim com que o titular exerce o direito e o interesse a que o poder nele consubstanciado se encontra adstrito” .
Dá intelecção do art. 187 uma última conclusão é a de que o abuso do direito, que era estranho ao Código de 1916, foi agora erigido a princípio geral, podendo ocorrer em todas as áreas do Direito (obrigações, contratos, propriedade, família), pois a expressão “o titular de um direito” abrange todo e qualquer direito cujos limites foram excedidos.
Caio Mário, com a sua indiscutível autoridade, observa que, na falta de uma regra geral consagradora da teoria do abuso do direito, a doutrina e a jurisprudência acabaram por encontrá-la no art. 160 de 1916, por uma interpretação a contrario sensu, sob o seguinte argumento: se não é ato ilícito o dano causado no exercício regular de um direito, é abusivo o exercício irregular. Aponta ainda o Mestre várias hipóteses de abuso do direito previstas no velho código. Assim, por exemplo, o art. 554, que reprimia o uso nocivo da propriedade (art. 1277 do novo Código) o art. 100, que, a contrario sensu, previa a anormalidade do exercício de um direito como forma de coação (atual art. 153); os artigos 1.530 e 1.531, que proibiam o exercício abusivo do direito de demanda (arts. 939, 940 do Código atual); e, ainda, o art. 20 da Lei de Falências, que erige o pedido abusivo de falência em ato sujeito a indenização.
Lembramos que a desconsideração da pessoa jurídica (disregard doctrine) – instituto que está hoje consagrado em vários diplomas legais (art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho; art. 135, II, do Código Tributário Nacional; art. 4º da Lei n. 9.605/98 – Lei do Meio Ambiente; art. 28 e § 5º do Código de Defesa do Consumidor; art. 50 do novo Código Civil) – tem por fundamento o abuso do direito. Foram tantas as fraudes perpetradas por diretores e acionistas através da sociedade, para obter vantagens pessoais, tantas as formas de prejudicar credores ocultando-se atrás da pessoa jurídica, tantas as vezes que a lei foi burlada e a obrigação descumprida com a ajuda da empresa em prejuízo de terceiros, que a doutrina e a jurisprudência construíram esse extraordinário instituto. Convém lembrar que o jurista Rubens Requião foi pioneiro na defesa da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em nosso país, lançando as bases desse instituto em célebre artigo intitulado: “Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica” (RT 410/11, n.12). Supera-se por meio desse instituto a forma externa da pessoa jurídica, para alcançar as pessoas e bens que sob seu manto se escondem. Em face da exaltação da pessoa jurídica como forma de organização, ganhou terreno a idéia de que é necessário impor-lhe limitação de ordem moral e ética, como freio, ante efetivos desvios em sua utilização.
Além da doutrina, convém ressaltar a jurisprudência, através do voto lapidar proferido no REsp 86.502 (STJ, 4ª Turma), onde, o Ministro Rui Rosado de Aguiar assim se posicionou sobre o tema:
“Assim, estou me pondo de acordo com os que admitem a aplicação da doutrina da desconsideração, para julgar ineficaz a personificação societária SEMPRE QUE FOR USADA COM ABUSO DE DIREITO, para fraudar a lei ou prejudicar a terceiros. Ou, em outras palavras: o juiz pode decretar a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica, se verificar que ela foi utilizada como instrumento para realização de fraude ou abuso de direito. A sua compatibilidade com o ordenamento jurídico nacional, além dos casos expressamente previstos em lei (ex.: art. 2º, § 2º da CLT; art. 135, II, do CTN), também decorre do princípio geral da boa-fé, base da doutrina alemã construída sobre o ponto, do princípio que veda o uso abusivo do direito e da cláusula geral sobre a ordem pública. (art. 17 da Lei de Introdução ao Código Civil) que servem de fundamento para que se afaste pontualmente, presentes os pressupostos, a regra do art. 20 do CC”.
Convém notar ter sido alvo de perplexidades o fato de ter o novo Código Civil elevado o abuso do direito ao nível de princípio geral. Alega-se que constitui um verdadeiro perigo para a segurança das relações jurídicas deixar todos os direitos individuais subordinados ao arbítrio judicial; que a certeza do direito será posta em discussão se em linha de princípio tiver o juiz a liberdade de sindicar discricionariamente o mérito das modalidades de exercício do direito subjetivo por parte do titular. Todavia, a crítica não procede, porque o novo Código, não somente neste, mas também em inúmeros outros pontos, aumentou consideravelmente os poderes do juiz. Todos os negócios jurídicos terão, agora, que ser interpretados conforme a boa-fé (princípio da eticidade) e os usos do lugar de sua celebração (art. 113); a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato (art. 421); os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422). Em todos esses casos, nunca é demais repetir, e em muitos outros, a lei estabeleceu como parâmetros de decisão da causa o prudente arbítrio do juiz; os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação de valores, cada vez mais utilizados pelo Judiciário até na solução em sede das questões de hermenêutica constitucional, pelo que não se pode ver exagero algum na norma do art. 187 do CC.Para finalizar esse item, lembramos que a adoção da teoria do abuso do direito constitui um dos aspectos da constitucionalização do Direito Civil, tendência marcante do nosso tempo e característica do Estado Social, possibilitando a permanente oxigenação do sistema ao permitir a adequação das normas à realidade social, em constante mutação.
As normas constitucionais contêm os fundamentos e os princípios da República e descrevem um projeto de sociedade, a ser realizado através dos valores por ela mesma escolhidos como prevalentes, num dado momento histórico. Tais normas incidem diretamente sobre as relações interprivadas, somente legitimando os atos praticados em conformidade com os valores fundamentais do ordenamento, contidos na própria Carta.Concluindo, resta aos estudiosos e operadores do direito dar vida ao instituto, compreendendo seu verdadeiro sentido e alcance a partir da história de sua formulação pela ciência jurídica, procurando dar efetividade à norma do Código de 2002 que o acolheu de olhos postos na realidade que reclama sua aplicação.
V – ATOS LESIVOS NÃO CONSIDERADOS ILÍCITOSO art. 188 do CC declara não constituírem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, ou em estado de necessidade, que são:
1 – A legítima defesa
Proclama o art. 188, I do CC que não constituem atos ilícitos os praticados em “legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”. O próprio “cumprimento do dever legal”, embora não explicitamente, nele está contido, pois atua no exercício regular de um direito reconhecido aquele que pratica um ato “no estrito cumprimento do dever legal”.
Se o ato foi praticado contra o próprio agressor, e em legítima defesa, não pode o agente ser responsabilizado pelos danos provocados. Entretanto, se, por engano ou erro de pontaria, terceira pessoa foi atingida (ou alguma coisa de valor) nesse caso deve o agente reparar o dano. Mas terá ação regressiva contra o agressor para se ressarcir da importância desembolsada. Dispõe o parágrafo único do art. 930: “a mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou dano (art. 188, I)”. Deve-se notar a remissão feita ao art. 188, I.
Somente a legítima defesa real, e praticada contra o agressor, deixa de ser ato ilícito, apesar do dano causado, impedindo a ação de ressarcimento de danos. Caso o agente, por erro de pontaria (aberratio ictus) atingir um terceiro, ficará obrigado a indenizar os danos a este causados, tendo, porém, direito à ação regressiva contra o injusto ofensor, como já dito.
A legítima defesa putativa também não exime o réu de indenizar o dano, pois somente exclui a culpabilidade e não a antijuridicidade do ato. O art. 65 do Código de Processo Penal não faz nenhuma referência às excludentes da culpabilidade, ou seja, às denominadas dirimentes penais. Uma vez que se trata de erro de fato, não há que cogitar da aplicação do art. 65 do CPP. Na legítima defesa putativa, o ato de quem a pratica é ilícito, embora não punível por ausência de culpabilidade em grau suficiente para a condenação criminal. Entretanto, no cível, a culpa mesmo levíssima obriga a indenizar; e não deixa de haver negligência na apreciação equivocada dos fatos.
Na esfera civil, o excesso, a extrapolação da legítima defesa, por negligência ou imprudência, configura a situação do art. 186 do CC.
2 – O exercício regular de um direito reconhecido
O exercício regular ou normal de um direito reconhecido (CC, art. 188, I, 2ª parte) que lesar direitos alheios exclui qualquer responsabilidade pelo prejuízo, por não ser um procedimento prejudicial ao direito. Por exemplo, o credor que penhora os bens do devedor, proprietário que ergue construção em seu terreno, prejudicando não intencionalmente a vista do vizinho. Só haverá ato ilícito se houver abuso do direito ou seu exercício irregular ou anormal.
3 – O estado de necessidade
Consiste na ofensa do direito alheio ou na deterioração ou destruição de coisa pertencente a outrem para remover perigo iminente, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário e quando não exceder os limites do indispensável para a remoção do perigo (CC, art. 188, II, e parágrafo único; CP, art. 24, §§ 1º e 2º). Não se exige, porém, que o direito sacrificado seja inferior ao direito salvaguardado, nem mesmo se requer absoluta ausência de outro meio menos prejudicial. Como regra, o perigo resulta de acontecimento fortuito, natural ou acidental, criado pelo próprio prejudicado ou terceiro. De forma que, pelo art. 929 do CC, “se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofrerem”, e, pelo art. 930, “no caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado”. Só não deve haver ressarcimento do dano se o prejudicado for o próprio ofensor ou o próprio autor do perigo. Não se caracteriza como estado de necessidade, por exemplo, o motorista que, preocupado com um princípio de incêndio em seu veículo, perca a direção e invada a contramão, provocando colisão em outro; ou o caso do pai que rapta a filha de quem a detinha por força de decisão judicial. Enfim, constituem hipóteses de estado de necessidade: o sacrifício de um automóvel alheio para salvar a vida humana; matar um cão de outrem atacado de hidrofobia e que ameaça morder várias pessoas; jogar latas de gasolina na rua destruindo carroça, para evitar que incêndio se propague por toda a garagem; bem como a destruição de prédio alheio para evitar que o incêndio se propague em todo o quarteirão.
VI – CONCLUSÃO
No sentido restrito do direito, ato ilícito é todo o fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a alguém. Para que um fato constitua ato ilícito, na concepção jurídica, é preciso que ataque um direito existente de que outro seja titular e só então é que ele induz responsabilidade civil. Quem usa de seu direito, mesmo com prejuízo de outro, não pratica o ilícito se não ofender a um direito que o outro efetivamente tinha.
O ato ilícito, portanto, é sempre um comportamento voluntário que infringe um dever jurídico, e não que simplesmente prometa ou ameace infringi-lo, de tal sorte que, desde o momento em que um ato ilícito foi praticado, está-se diante de um processo executivo, e não diante de uma simples manifestação de vontade. Nem por isso, entretanto, o ato ilícito dispensa uma manifestação de vontade. Antes, pelo contrário, por ser um ato de conduta, um comportamento humano, é preciso que ele seja voluntário. Em conclusão, ato ilícito é o conjunto de pressupostos da responsabilidade.
Por fim, no que diz respeito especificamente à noção de ato ilícito e sua estrita relação com a responsabilidade civil, pode ser afirmada a índole solidarista do novo Código. Afasta-se, assim, a natureza individualista da codificação anterior, que colidia frontalmente com nossa mais recente orientação constitucional, expressamente consolidada nos princípios fundamentais da República.
Com efeito, ao mesmo tempo em que mantém inalterada a clássica noção de ato ilícito, o novo Código adota um sistema paralelo de responsabilização objetiva, fundado ou na lei ou no risco, incorporando, em seu texto, o resultado de décadas de fluxos e refluxos da doutrina e jurisprudência. Por exemplo, na chamada teoria do risco, assim, solidariza-se a obrigação de reparar o dano, nas hipóteses específicas onde, antes, se condenava a própria vítima a assumir o prejuízo, em razão da insuficiência da teoria da culpa, o que se revelava em flagrante injustiça. Muito embora, como já dito, o texto respectivo (art. 927) encerre em si relativa imprecisão e obscuridade, o que deverá ser resolvido pela doutrina e pela jurisprudência, é, de toda forma inegável que a consagração do princípio da responsabilidade objetiva significa o acolhimento legislativo de conquistas, já não tão recentes, da experiência social e da cultura jurídica. Plasmado nestas linhas mestras, cumpre reconhecer que bem andou a Jurisprudência e o legislador.